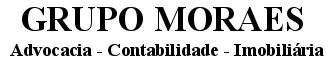Notíciais Atualizadas
Previsão do tempo
Segunda-feira - Belo Horizo...

Máx
27ºC
Min
21ºC
Chuva
Hoje - Belo Horizonte, MG

Máx
30ºC
Min
20ºC
Chuva
Quarta-feira - Belo Horizon...

Máx
32ºC
Min
20ºC
Parcialmente Nublado
Segunda-feira - Ibirité, M...

Máx
25ºC
Min
20ºC
Chuva
Hoje - Ibirité, MG

Máx
28ºC
Min
20ºC
Parcialmente Nublado
Quarta-feira - Ibirité, MG

Máx
30ºC
Min
20ºC
Parcialmente Nublado
Doutrina
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Faculdade Mineira de Direito – Campus Barreiro
José Geraldo de Moraes
RESPONSABILIDADE CIVIL PATERNAL POR ABANDONO AFETIVO A LUZ DOS REFLEXOS NEGATIVOS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E DISCIPLINAR DO MENOR
Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito
Orientadora: Profa. Dra . Juliane Fernandes Queiroz
Dedico esta monografia aos meus pais que me deram muito apoio nos momentos mais difíceis da minha vida, aos meus colegas da faculdade que estiveram ao meu lado e sempre me ajudaram nas horas de aperto, aos verdadeiros e poucos amigos que me incentivaram na realização deste curso e aos meus professores que me ensinaram que por mais que achamos que o nosso conhecimento já está bem profundo, estamos enganados, pois o conhecimento é algo que está sempre se renovando.
Obrigado por tudo!
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus pelas oportunidades que me foram dadas na vida, principalmente por ter conhecido pessoas e lugares interessantes, mas também por ter vivido fases difíceis, que foram matérias-primas de aprendizado.
Não posso deixar de agradecer aos meus pais Antônio Vilaça de Moraes e Angelina Cândida de Moraes, sem os quais não estaria aqui, e por terem me fornecido condições para me tornar o profissional e Homem que sou.
Aos meus colegas da faculdade Alan Viveiros, Edilene Ramos, Alexandra Maciel, Mozar dos Reis, João Paulo, Luciana de Carvalho e Raimunda Cristina que sempre estiveram presentes nos momentos de aperto.
Agradeço especialmente a professora Juliane Fernandes Queiroz pelo companheirismo, dedicação e acolhimento nas atividades de orientação desta monografia.
Por fim, agradeço aos professores Cimon Hendrigo Burmann de Souza pelos preciosos ensinamentos em Direito Civil, sobretudo a cerca da Responsabilidade Civil e Teodoro Adriano Costa Zanardi pela visão de vanguarda no Direito de Família, fundamental na escolha do tema deste trabalho.
[...] “amar é faculdade, cuidar é dever” [...]
[...] “aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos”[...]
Ministra Nancy Andrighi
Superior Tribunal de Justiça
RESUMO
Crianças que não possuem uma relação positiva, segura e afetuosa com o pai ou cujo pai está sempre ausente ou simplesmente a ignora por completo, é passível, ao longo de sua vida, desenvolver seríssimos distúrbios comportamentais e psíquicos. Portanto, o objetivo do presente trabalho é discutir a existência de danos morais em decorrência da ausência do afeto paterno-filial a luz dos efeitos negativos no desenvolvimento cognitivo e disciplinar e a consequente possibilidade do filho buscar a reparação, judicialmente, pleiteando uma justa indenização pelos danos sofridos ao longo de sua existência. Nessa perspectiva, vale-se do instituto da Responsabilidade Civil, para discorrer um brevíssimo histórico de sua evolução e dos elementos necessários para sua configuração, abordando, naturalmente, com mais ênfase o dano moral. O leitor deste trabalho será conduzido em seguida pelo conteúdo do Direito de Família, sua evolução histórica, transformações e a sua atual concepção, com enfoque principal na relação paterno-filial, discorrendo os principais dispositivos que determinam os deveres do genitor, trazendo à tona a importância do afeto paterno-filial e os danos advindos de sua conduta omissiva, caracterizada pela sua ausência. O descumprimento do dever de afeto são associados aos pressupostos qualificadores da responsabilidade civil, identificando que o dever de afeto está claramente implícito no ordenamento jurídico e, por fim, conclui a pesquisa, apresentando um caso concreto analisado a luz dos efeitos nefastos da rejeição do pai no desenvolvimento cognitivo e disciplinar de um aluno de escola pública. O tema da pesquisa permeia o campo do Direito Civil, mas se entrelaça ao Direito Constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Psicologia, sobretudo, a Psicologia Educacional. Foi empregado método indutivo. A análise do tema demonstra o dever dos pais de indenizar, em decorrência de suas condutas impróprias, deixando de cumprir com os deveres que lhe são inerentes e naturais, ocasionado danos de ordem moral que afetam a dignidade humana do filho, prejudicando o seu desenvolvimento social como um todo.
Palavras-chaves: Afeto. Dever. Dano Moral. Indenização. Fracasso Escolar. Responsabilidade. Família. Pai. Filho. Convivência.
ABSTRACT
Children who do not have a positive, safe and affectionate with the father or whose father is always absent, or simply ignore it altogether, is liable, throughout his life, to develop behavioral and psychological disorders serious. Therefore, the aim of this paper is to discuss the existence of damages due to the absence of the paternal- branch affection the light of the negative effects on cognitive development and discipline of the child and the consequent possibility to seek redress in court seeking fair compensation for damages suffered throughout its existence. From this perspective, we make use of the Institute of Civil Liability, discussing a brief history of its evolution and the elements necessary for your configuration, addressing, of course, with more emphasis on the damage. The reader of this work will be conducted then the content of family law, its historical evolution, transformations and its current design, with main focus on the paternal-filial relationship, discussing the main devices that determine the duties of a parent, bringing up the importance paternal-filial affection and damages arising out of your conduct omission characterized by its absence. The breach of duty of affection are qualifiers associated with the assumptions of liability, identifying that the duty of affection is clearly implied in law, and finally, the paper concludes by presenting a case analyzed with the adverse effects of the rejection of the father cognitive development and discipline of a public school student. The research theme permeates the field of civil law, but intertwines the Constitutional Law, the Statute of the Child and Adolescent Psychology and, above all, the Educational Psychology. Inductive method was used. The analysis of the subject demonstrates the duty of parents to indemnify, due to their misconduct, failing to fulfill the duties that are inherent and natural, caused damage affecting the moral dignity of the child, hampering their social as a whole.
Keywords: Affection. Duty. Moral damage. Indemnity. School Failure. Responsibility. Family. Father. Child. Coexistence.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
1.1 Justificativa
CAPÍTULO 1 – RESPONSABILIDADE CIVIL: CONCEITO, HISTÓRIA, PRESSUPOSTOS
1.1- Responsabilidade Civil
1.1.1- Progresso Histórico da Responsabilidade Civil
1.2-Conceito e Alvo da Responsabilidade Civil
1.3-Condições da Responsabilidade Civil
1.3.1-Pressupostos da Responsabilidade Civil Subjetiva
1.3.2-Ação
1.3.3-Culpa como fundamento da Responsabilidade Civil
1.3.4- Do nexo de causalidade
1.3.5- Nexo de Causalidade entre a Conduta Omissiva e o Evento Dano
1.3.6- Dano
1.4- Do Dano Moral
1.4.1- Da Evolução Histórica do Dano Moral
1.4.2-Da Constatação do Dano Moral
CAPÍTULO 2 – DA FAMILIA
2.1- Evolução Histórica
2.2- A Família na Idade Média
2.3- Família Originária no Código Civil Brasileiro
2.4- As Constituições Brasileiras e as Consequentes Repercussões na
Família
2.5- O Novo Modelo de Família Recepcionado pela Constituição Federal
Brasileira
2.6- Família Alicerçada no Afeto
2.7- Conceito de Família na Contemporaneidade
CAPÍTULO 3- DA FILIAÇÃO NO DIREITO CIVIL
3.1- A filiação no Direito Civil Brasileiro
3.2- A filiação na Constituição Federal de 1988
CAPÍTULO 4- DA IMPORTÂNCIA DO AFETO PARENTAL-FILIAL E DOS
DANOS DECORRENTES DE SUA AUSÊNCIA
4.1- Problemas emocionais manifestados após o abandono afetivo
4.2- Antecedentes históricos sobre a figura paterna
4.3- Da importância do Afeto Paternal na vida do filho
4.4- A Importância do Pai no Desempenho Acadêmico do Filho
4.5 – As Consequências da Ausência do Afeto Paterno-Filial
CAPÍTULO 5- A PROTEÇÃO DO AFEETO PATERNO – FILIAL COMO
VALOR JURÍDICO
5.1- O Poder Familiar
CAPÍTULO 6- PROTEÇÕES LEGAIS RELACIONADAS O AFETO
PATERNO – FILIAL
6.1- Da Dignidade da Pessoa Humana
6.1.1- O Princípio constitucional a Dignidade da Pessoa Humana na prática
6.2 – A questão delicada do abandono afetivo
CAPÍTULO 7 – A AUSÊNCIA DO AFETO PATERNO – FILIAL COM
FATO GERADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
CAPÍTULO 8 – ANÁLISE DO CASO CONCRETO
8.1- Anamnese como instrumento de diagnóstico
8.1.1- A aplicação do instrumento
8.1.2- O instrumento
8.2- Aplicabilidade da Responsabilidade Civil no Abandono Afetivo Paterno no caso em estudo
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APÊNDICE
ANEXOS
1- INTRODUÇÃO
O trabalho apresentado aqui possui objetivo de análise da possibilidade jurídica de se condenar um genitor à indenização por danos morais decorrentes dos efeitos negativos no desenvolvimento cognitivo e disciplinar do menor, em virtude da ausência do afeto paterno-filial, em conformidade com as normas disciplinadas no Direito Civil, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Para melhor compreensão do tema, será relevante fazer uma abordagem histórica que permita ao leitor conhecer a evolução do instituto da Responsabilidade Civil, sobretudo o Dano Moral, os elementos que o qualifica e a evolução dos aspectos jurídicos que envolvem as relações familiares.
Nesse sentido, a pesquisa busca demonstrar que a família contemporânea em consequência de sua instituição pelo legislador constituinte como base da sociedade passou a ser regulamentada por meio de normas garantidoras de proteção aos direitos inerentes à pessoa humana.
Partindo da concepção da família atual, buscar-se-á analisar o instituto do poder familiar a fim de conhecer os seus antecedentes históricos, sua finalidade e atuação no direito brasileiro e demonstrar que o conteúdo desse instituto está mais atrelado a uma relação de dever do que de poder propriamente dito.
Chamar-se-á a atenção de que a princípio, em uma leitura desavisada, não se visualizará, dentro do rol de deveres instituídos no poder familiar, o dever de afeto. No entanto, numa análise sistemática da Constituição Federal, este dever está implicitamente contido nos princípios informadores do Estado Democrático de Direito em conformidade com o estabelecido na Carta Maior.
Com base nos ensinamentos de brilhantes doutrinadores, como Sérgio Cavalieri, Carlos Roberto Gonçalves, Arnaldo Rizzardo, Gisele Maria Fernandes Novaes Hironaka, Sílvio Salvo Venosa, Maria Berenice Dias, Juliane Fernandes Queiroz e Maria Helena Diniz desenvolver-se-á ao longo do trabalho uma sólida fundamentação teórica e jurídica indispensáveis para se chegar ao objetivo proposto que é avaliar e fundamentar o nexo de causalidade entre ato ilícito do abandono afetivo promovido pelo pai e os danos causados pela ausência deste pai no que se refere ao desenvolvimento cognitivo e disciplinar do filho. A partir da comprovação do nexo de causalidade, poder-se-á possibilitar a argumentação do dever do pai de indenizar por danos morais o filho abandonado.
Considerando que a Psicologia é uma ciência de extrema relevância quando se cuida do Direito de Família, apresenta-se os danos apontados por essa área, como consequência do descumprimento do dever do pai de prestar afeto ao filho.
Em particular, o tema central deste trabalho é afirmar o cabimento da indenização por danos morais face à ausência do afeto paterno-filial por acreditar que as funções paternas só podem ser exercidas a partir do momento em que aos filhos sejam propiciados proteção, segurança, amor e afeto. A criança precisa da demonstração desses sentimentos para seu desenvolvimento saudável, cuja falta lhe causará sérios danos psicológicos. Estes, por sua vez, serão externados em suas relações sociais, sobretudo no seu desenvolvimento escolar, haja vista que alunos de todos os níveis, mas principalmente os das séries iniciais, possuem evolução cognitiva e disciplinar absolutamente distintas em relação aos alunos que possuem convivência afetuosa com seus pais.
São expostos ainda os fundamentos do dever de indenizar face à ausência do afeto paterno-filial, levando em consideração os pressupostos da responsabilidade civil.
Por fim, ainda trouxe alguns julgados em que foi acolhido o pedido de indenização por danos morais decorrentes da ausência do afeto paterno-filial como forma de demonstrar os fundamentos justificadores dessas decisões. Este trabalho foi agraciados, durante a pesquisa, com a importantíssima decisão do STJ o qual condenou um pai ao pagamento da quantia de duzentos mil reais a filha por tê-la abandonado afetivamente. A Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, foi absolutamente brilhante em suas colocações, sobretudo ao proferir em seu voto que “aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos”. Sua visão jurídica da matéria comunga com a interpretação da pesquisa que é o dever de cuidar, subliminar ao dever do afeto, pois não há o que se falar do verdadeiro “cuidar” sem afeto. Tal decisão veio corroborar com o objetivo proposto de demonstrar que o que se discute não é a obrigatoriedade de amar, mesmo porque, não existe norma vigente em nosso ordenamento que impõe tal obrigação. O que se quer mostrar é a imposição do dever legal de cuidar, em amplo sentido. Dever este, decorrente da liberdade de escolha em gerar ou adotar filhos.
O objeto deste trabalho foi essencialmente bibliográfico a partir de investigações doutrinária e jurisprudencial. No entanto, como forma de ilustrar a discussão apresentada, foi feita uma pesquisa de caso concreto, no qual foi aplicado importante instrumento de análise no campo da Psicanálise, conhecido como ANAMNESE, com o objetivo principal de possibilitar ao pesquisador ampliar horizontalmente a fala sintomática, partindo da queixa apresentada pelo aluno para sua construção de vida. Durante este processo os diferentes atores de sua rede relacional e sua ambiência se fizeram presentes, desvalendo tanto o sintoma apresentado, quanto a forma como este repercute na família. Para atingir o objetivo fundamental da Anamnese foi preciso acolher a família do aluno e dar-lhe a possibilidade de escuta e compreensão de seu sofrer, caso contrário, a Anamnese se resumiria em um simples questionário. Para se alcançar um resultado desejado com a Anamnese, foi necessário conjugar a compreensão empática do pesquisador com a entrevista semi-dirigida. Esta se caracterizou por perguntas abertas que demandaram do entrevistado a iniciativa de “falar por si”, ou seja, sem recurso defensivo do questionário. Esta entrevista foi um dos principais pontos para um bom diagnóstico, pois possibilitou a integração do passado, presente e futuro do sujeito em estudo.
Não obstante os posicionamentos contrários ao cabimento da indenização moral pela falta do afeto paterno-filial, procurou-se demonstrar que tal pretensão deve ser acolhida, por entender que esta seja uma das melhores formas de chamar a atenção dos pais que se esqueceram de suas principais obrigações e ainda despertar a consciência de futuros homens que venham optar pela paternidade no sentido de que a esta deve ser exercida com responsabilidade.
1.1 Justificativa
Sou servidor público estadual há mais de 15 anos na área da educação. Sou professor de geografia e presenciei na minha prática pedagógica em sala de aula, inúmeras situações desagradáveis de violência, rebeldia, ações injustificadas de agressão, discriminação, entre outras. Aprendemos que cada aluno possui um ritmo de aprendizagem, um momento de cognição. No entanto, sempre verificamos alguns alunos que possuem baixíssimo desenvolvimento cognitivo atrelado ao comportamento incompatível ao ambiente escolar. Em inúmeras reuniões com pais e alunos observamos que os pais dos referidos alunos, com maior dificuldade, sempre são ausentes. Quando convidados para irem à escola, estes pais demonstram total desinteresse pela vida acadêmica de seus filhos.
Na grande maioria das vezes, estes alunos são fruto de famílias desestruturadas, nas quais um dos progenitores é parcial ou absolutamente ausente. É claro, que seria leviano afirmar que todos os problemas no desenvolvimento cognitivo e disciplinar dos alunos estão relacionados à ausência do pai ou da mãe. No entanto, a experiência como professor e como diretor a mais de 8 anos, possibilita-me afirmar que, na escola onde trabalho, a grande maioria dos alunos com problemas de aprendizagem, pertencem a famílias que não possuem a convivência cotidiana com um dos progenitores, em especial o pai.
As consequências do baixo desempenho dos alunos são terríveis para toda a vida da criança. São observadas retenções recorrentes, distúrbios emocionais que provocam desinteresse para com os estudos e a interação com demais colegas. A culminância destes fatos são os baixíssimos índices de conclusão do ensino médio. Muitos alunos se evadem ao longo da trajetória escolar, impossibilitando-os de ingressar no mercado de trabalho formal, ao prosseguimento na vida acadêmica e à autonomia econômica.
Em minha monografia de conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial na Escola Inclusiva, tive a oportunidade de analisar um caso concreto que confirmou a hipótese de que o abandono afetivo pelo pai, possui enormes consequências negativas para o desenvolvimento da criança. Os alunos tidos “normais” também necessitam de acompanhamento especial, nas atividades escolares, em virtude destes traumas ou distúrbios de comportamento ocasionados pela ausência de afeto.
Partindo da premissa que o pai possui o dever jurídico e moral de prover material e afetivamente o desenvolvimento dos filhos, é mister concluir que a omissão ou a comissão do dever de dar afeto, enseja a responsabilidade civil de indenizar o filho pelos danos causados ao longo de sua vida, em virtude no fracasso escolar, oriundo dos distúrbios emocionais ligados aos efeitos do abandono e da ausência do afeto por parte do pai.
Acredito que a indenização suportada pelo pai ausente, deverá possuir uma função pedagógica, educativa. Muito mais do que compensar à vítima do dano sofrido ou punir o ofensor, a reparação civil deverá ter a função de alertar à sociedade que condutas semelhantes àquela do ofensor não serão permitidas pelo ordenamento jurídico, portanto, uma função de desestimular condutas semelhantes. Esta será minha contribuição.
CAPITULO 1- RESPONSABILIDADE CIVIL: CONCEITO, HISTÓRIA, PRESSUPOSTOS
1.1- Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil tem como fundamento a restauração de um equilíbrio moral e patrimonial destruído em virtude de um dano sofrido. Essa restauração significa o dever que alguém tem de reparar o dano, de forma a desfazer tanto quanto possível os seus efeitos, recompondo a vítima ao estado em que encontrava antes do dano, ou não sendo possível, ressarci– lá pelo equivalente.
Em apropriada síntese, Maria Helena Diniz define:
A responsabilidade civil pressupõe uma relação jurídica entre a pessoa que sofreu o prejuízo e a que deve repará-lo, deslocando o ônus do dano sofrido pelo lesado para outra pessoa que, por lei, deverá suporta-lo , atendendo assim à necessidade moral, social e jurídica de garantir a segurança da vítima violada pelo autor do prejuízo. (Diniz ,2003, p.7)
Destarte, a responsabilidade civil constitui uma relação obrigacional que tem por objeto o dever da reparação. Para Sílvio de Salvo Venosa, a responsabilidade sempre implica em exame de conduta voluntária que violenta um dever jurídico, que por consequência, causa algum dano a outrem.
- .1 Progresso Histórico da Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil, em sua progressão histórica, passou por inúmeras transformações com relação aos seus fundamentos, à sua área de incidência e à sua forma de reparação.
Historicamente, nos primórdios da civilização a forma encontrada para responder uma ofensa dava-se através da vingança, a qual era exercida de maneira imediata, instintiva e brutal. Inicialmente, dominava a vingança coletiva, que se caracterizava pela reação conjunta de um grupo contra o agressor, pela ofensa a um de seus componentes. Para Carlos Roberto Gonçalves, “Dominava, então, a vingança privada, forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação espontânea e natural contra o mal sofrido, solução comum a todos os povos e suas origens, para a reparação do mal pelo mal”. Gonçalves( 2006, p.4)
Num segundo momento, essa reação passou a ser feita de forma individual, caracterizando-se numa vingança privada, que consistia em fazer justiça pelas próprias mãos. Se a reação não pudesse acontecer desde logo, sobrevinha a vindita meditada, posteriormente regulamentada, através da justiça pelas próprias mãos decorria da imposição da Lei de Talião, sintetizada na fórmula “olho por olho, dente por dente”, “quem com ferro fere, com ferro será ferido”, cuja tradução era a reparação do mal pelo mal.
Nesse tipo de reparação permitia-se à vítima o direito de produzir na pessoa do o qual lhe provocou a lesão, dano idêntico ao que experimentou. Contudo, o poder público, a fim de coibir abusos, intervinha para declarar como e quando a vítima teria o direito a retaliação. Na sequência, sob o argumento de ser mais conveniente para a vítima, surgiu a composição que se assemelha nos dias de hoje com a indenização. Pela composição ficava estabelecido que o dano sofrido pela vítima poderia ser reparado, mediante o pagamento de uma certa quantia em dinheiro. Entretanto, a substituição da vingança privada pela composição ficava a critério da vítima. Nesse momento, ainda não se cogitava a culpa. Nessa trilha a ideia de reparação pecuniária como fundamento da responsabilidade civil foi reforçada ao longo do tempo pela qual o agente suportaria os danos causados, respondendo com o seu patrimônio fim de ressarcir o dano causado. Entretanto, para fins de responsabilidade o fundamento dessa lei baseava na noção de culpa, de maneira que o agente não estaria obrigado a nenhuma reparação se tivesse procedido sem culpa. Passou se atribuir o dano à conduta culposa do agente, nascia assim, a ideia de responsabilidade subjetiva.
Pela Lex Áquila (Ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti ID no OE anno plurimi frutas-, tantum aes desafio dominó damnas esto -Se alguém injustamente mata um escravo, sendo este homem ou mulher, ou mata um animal, o agressor dever ser condenado a pagar ao proprietário, o equivalente ao valor da sua propriedade destruía, independentemente se o valor do ano anterior for mais alto.) foram estabelecidas as bases da responsabilidade extracontratual, criando uma forma de indenização com base no valor do prejuízo. Segundo Silvio de Salvo Venosa, a Lex Aquila foi um plebiscito aprovado ainda no século III ou II a.C., não se sabe ao certo a data, mas este evento possibilitou a atribuição do titular de bens o direito de preitear o pagamento de uma penalidade em dinheiro a quem ou de quem tivesse destruído ou deteriorado seus bens, por este motivo, a Lex Aquila também é denominada de responsabilidade aquiliana. Punia-se portanto, uma conduta que viesse a ocasionar danos. Nesse momento, o Estado passa a intervir nos conflitos particulares, fixando o valor dos prejuízos e obrigando a vítima a renunciar à vingança privada e aceitar a composição/indenização como forma de reparação do dano.
No direito Romano tal composição guardava um caráter de pena privada e de reparação, visto que havia uma linha muito fina entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, não havia portanto uma distinção clara entre as duas responsabilidades.
A distinção, porém, foi tratada pelo direito português que aperfeiçoou a teoria da responsabilidade civil estabelecendo determinados princípios, que exerceram sensível influência em outros povos. Dentre esses princípios destacava-se o direito à reparação sempre que houvesse culpa, separando a responsabilidade civil da responsabilidade penal. A previsão da culpa não guardava nenhuma relação com o crime ou delito, vinculada apenas a ideia de negligência ou imprudência.
A noção da responsabilidade baseada na culpa foi introduzida no Código de Napoleão, influenciando quase todas as legislações a estabelecerem a culpa como fundamento para a reparação do dano. O progresso social, político e econômico, bem como, o desenvolvimento industrial das nações, a multiplicação dos danos, trouxe reflexos no campo da responsabilidade civil, propiciando o surgimento de novas teorias e paradigmas, tendentes a prestar maior proteção às vítimas de dano.
Dentre essas novas teorias destaca-se a chamada “teoria do risco” que sem substituir a teoria da culpa, estabelecia uma responsabilidade objetiva, que consistia na reparação de dano independentemente de culpa. Segundo o professor Henrique Geaquinto Herkenhof está teoria parece ter sido acolhida pelo Código Civil Brasileiro no seu art. 927, parágrafo único , também conhecida como Teoria do Risco Integral, segundo o qual quem exerce a atividade perigosa assume inclusive os danos provocados por caso fortuito ou foça maior, por ato de terceiros ou até mesmo pela vítima. A responsabilidade de uma pedestre que se fere ao cair em um buraco ao trafegar no passeio é do município indiferente se a culpa é do ente político ou não.
A responsabilidade objetiva fundava-se no princípio de equidade, sobre a ideia de que a atividade desenvolvida por uma pessoa não deveria estar voltada apenas à obtenção de lucro, mas também à responsabilização pelos riscos dela resultantes, porém prevalecia a ideia da culpa como pressuposto da responsabilidade civil.
Cumpre observar, que o legislador por considerar que em determinadas situações, a culpa mostrava-se insuficiente para atender as imposições do progresso, fixou os casos especiais em que deveria ocorrer a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, como é o caso da responsabilidade objetivo do Estado.
Constata-se a mesma situação no direito brasileiro, que se manteve fiel à teoria subjetiva ao mencionar no artigo 186 do Código Civil que não haverá obrigação de reparar o dano sem a comprovação da culpa. Não obstante a disposição expressa no artigo 186, o ordenamento jurídico brasileiro, através de disposições expressas no Código Civil e também em leis supraconstitucionais adotou o Princípio da Responsabilidade Objetiva, obrigando a reparação do dano independentemente da culpa.
O referido princípio encontra amparo no Código Civil através das disposições determinadas nos artigos 927, parágrafo único, 933, 936, 937, 938 e 1.299 do Código Civil.
- - Conceito e Alvo da Responsabilidade Civil
O grande jurista Rui Stocco, em sua obra, traz o significado etimológico da palavra responsabilidade, afirmando que a noção do que ela exprime pode ser extraída de sua própria origem, do latim respondere, responder a alguma coisa, responder a alguém por algo feito. Ou seja, é a necessidade de que alguém dê uma resposta, uma satisfação, por ser responsável pelo advento de atos danosos, próprios ou alheios que ocasionaram perdas ou danos a outrem. Stocco(2001, p.56)
Anua os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho, o desígnio principal da ordem jurídica é proteger o lícito e reprimir o ilícito através do estabelecimento de deveres jurídicos. Entende-se por dever jurídico a conduta externa de uma pessoa imposta pelo direito positivo por exigência de convivência social. Vale dizer ainda, que a ordem jurídica se empenha em tutelar a atividade do homem que se comporta de acordo com o Direito e reprime a conduta daquele que contraria os deveres jurídicos. Tais deveres dependerão da natureza do direito a que correspondem, bem como das pessoas a quem atingem. A imposição desses deveres se dá em virtude da necessária convivência social das pessoas e se traduzem na criação de obrigações. Os deveres impostos pelo ordenamento jurídico são divididos pedagogicamente em deveres originários e deveres sucessivos. Os deveres jurídicos originários dizem respeito à conduta positivada no ordenamento, a qual o sujeito deve seguir. Caso não o faça, em acarretando danos a outra pessoa, os deveres originários impõem o dever sucessivo de reparação do dano. É neste aspecto que surge a noção de responsabilidade civil, segundo Sérgio Cavalieri Filho, que a conceitua sinteticamente como o “dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”. A relação jurídica da qual decorre o dever originário a que se discute pode tanto advir de um contrato, que impõe a responsabilidade contratual, quanto de uma lei ou do ordenamento, que dá origem à responsabilidade extracontratual. Cavalieri Filho (2009, p. 345,355)
Após aludir-se acerca da evolução da responsabilidade civil e verificarmos que o componente culta se faz primaz na sua constatação, nascendo assim a noção de responsabilidade subjetiva, passar-se-a aos fundamentos legais da responsabilidade civil subjetiva, os quais estão previstos nos artigos 186 e 927, do Código Civil de 2002. O primeiro dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O segundo determina o seguinte: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Em outras palavras, o civilmente responsável tem a obrigação, imposta legalmente, de indenizar a vítima do dano a que ele deu causa. É esta indenização, pois, a finalidade ou alvo precípuo da noção de responsabilidade. À primeira vista, o fim da obrigação de indenizar é colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso. Esta pretensão de obrigar o agente causador do dano a repará-lo tem por intenção despertar o sentimento de justiça para que se restabeleça o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre vítima e agente. Não se esquecendo de mencionar que o dano pode ser extrapatrimonial ou patrimonial, imaterial ou material.
Nos casos em que o dano é extrapatrimonial, esse equilíbrio não diz tanto respeito à natureza econômica, vez que a condenação por responsabilidade civil não é de cunho indenizatório, mas sim compensatório. Assim, propõe-se retribuir à vítima do dano moral em pecúnia de alguma maneira que possa a dor sentida ser compensada, reside ai a complexidade de se estabelecer valores capazes de sanar a dor sofrida. Nesta perspectiva, não há que se falar em tentativa de valorar o sofrimento, mesmo porque, tal pretensão não é possível.
- Condições da Responsabilidade Civil
Os pressupostos da responsabilidade civil têm como base a regra sedimentada no artigo 186 do Código Civil que estabelece, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencie ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Em sua obra, Sérgio Cavalieri Filho traz a valiosa contribuição de Antunes Varela. Segundo ele, o ato ilícito é o elemento básico da responsabilidade é o fato do agente ( um fato dominável ou controlável pela vontade, um comportamento ou uma forma de conduta humana) pois só quando a fatos dessa índole tem cabimento a ideia de ilicitude, o requisito da culpa e a obrigação de reparar o dano nos termos em que a lei estabelece ou impõe.
No acenado dispositivo estão presentes os quatro elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano experimentado pela vítima. Observa-se que baseado na teoria objetiva, que prevê a atribuição da responsabilidade independentemente do fator culpa, a responsabilidade civil poderá ficar caracterizada com fundamento apenas nos outros três elementos.
1.3.1 Pressupostos da Responsabilidade Civil Subjetiva
Para fins desse trabalho, a análise dos pressupostos da Responsabilidade Civil Subjetiva merecem especial atenção. Comumente mencionados pela doutrina estudada os quais caracterizam o dever de indenizar por responsabilidade civil subjetiva, são: a conduta culposa ou dolosa do agente, o dano e o nexo causal entre este dano e o ato.
Primeiramente, acerca da noção de ato, pela redação do artigo 927, Código Civil, o ato para que ensejasse o dever sucessivo de indenizar, deveria ser ilícito. Para Sílvio de Salvo Venosa, o ato a ser examinado na responsabilidade civil subjetiva deve sempre ser ilícito. Para o professor Sérgio Cavalieri Filho, ato ilícito é o conceito de maior relevância para o estudo do tema Responsabilidade Civil, por ser fato gerador da própria responsabilidade. Para ele o caráter antijurídico da conduta e o seu resultado danoso constituem o cerne do ato ilícito. No entanto, a noção de ato ilícito foi abandonada em favor do que entendemos hoje por dano injusto, de modo que a redação deste artigo não pode ser considerada em sua literalidade. Esse dano, a princípio, era conceituado como sendo a efetiva diminuição do patrimônio da vítima. Contudo, com o advento da noção de danos morais, este conceito foi modificado para considerar também os danos de ordem extrapatrimonial. Hoje, dano é visto como a subtração ou diminuição de um bem jurídico protegido pelo ordenamento pátrio, qualquer que seja sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, passível de valorização imediata, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, bem protegido pela legislação civilista brasileira. Logo, para o ordenamento atual, o dano é a efetiva lesão a um bem jurídico, podendo ser este bem de ordem tanto patrimonial como moral.
Sobre a conduta, cujo conceito é comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas. Note-se que a conduta pode ser tanto uma ação, sendo esta um comportamento comissivo e positivo, quanto uma omissão, que é a inatividade ou abstenção de uma conduta devida. Silvio Venosa nos alude que o dever de indenizar vai se firmar justamente no exame de transgressão ao dever de conduta que constitui o ato ilícito.
A omissão torna-se juridicamente relevante quando o omitente responsável tinha dever jurídico de agir. Neste caso, não impedir o resultado tem a mesma consequência prática de permitir que a causa opere, aceitando que o resultado se concretize, como por exemplo, um motorista que atropela alguém pode ser responsabilizado por omissão de socorro, se esta é a causa da morte, ainda que a culpa pelo evento caiba exclusivamente à vítima, porque tem o dever legal de socorrê-la.
A conduta humana pode se dar por dolo ou por culpa. Sílvio Rodrigues vê o dolo como a ação ou omissão do agente que antevê o dano e deliberadamente prossegue com o propósito mesmo de alcançar o resultado danoso. Relativamente à culpa em sentido estrito, pela concepção normativa, caracteriza-se esta como sendo uma omissão de diligência exigível, que nem sempre coincide com uma violação da lei. Rodrigues (2003,p.78).
O Desembargador Sérgio Cavalieri Filho destaca que a vida em sociedade obriga o homem a viver de modo a não causar dano a ninguém, sendo esta a premissa do dever de cuidado objetivo. Este dever compreende dois momentos. O primeiro desses momentos é a compreensão de qual seja o comportamento adequado para atingir o fim que lhe é proposto, fazendo juízo de ponderação entre as vantagens e os inconvenientes das diversas atuações possíveis. O segundo momento, após o primeiro de compreensão e ponderação, abrange a efetiva atuação nos moldes do comportamento adequado. Como por exemplo podemos citar o exercício abusivo de um direito, excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico e sócia, pela boa-fé ou pelos bons costumes: alguém que levanta um muro exagerado, somente para incomodar o vizinho, ou que, podendo sem grandes dificuldades silenciar um animal, deixa que ele provoque escandaloso ruído noturno, dentre outros exemplos.
A inobservância do dever de cuidado, quando o agente devia e podia agir de outro modo, causando dano, é que caracteriza a conduta culposa. Diferentemente do que ocorre no dolo, não se procede com intuito de causar o ato ilícito. Em verdade, atua-se de maneira lícita; mas, por adotar uma conduta inadequada aos padrões sociais, que poderia evitar, acaba causando um dano. Tal dano poderá ser fato gerador de responsabilidade.
A conduta adequada pode estar prevista na lei ou não, haja vista a incapacidade do ordenamento de prever todas as hipóteses de violação de cuidado das atividades humanas. É por isso que, em alguns casos, há culpa mesmo que não haja um dever previsto no corpo do ordenamento jurídico ou regulamentado em lei extravagante
Nesse sentido, o ordenamento impõe ao homem comum o dever jurídico genérico para que ele se comporte de modo a não violar o direito de ninguém para que se mantenha a ordem e a harmonia social. Por esta razão, o professor Sérgio Cavalieri Filho assegura que o dever de cuidado enseja a responsabilidade civil subjetiva. Cavalieri Filho (2009, p.357)
O último pressuposto da responsabilidade civil a ser tratado antes de adentrar no dano em si, partindo para o dano moral, é o nexo causal. Antes mesmo da discussão acerca da conduta do agente ter sido com dolo ou culpa, cumpre analisar se com sua conduta ele deu causa do resultado dano. Na análise de Serpa Lopes, “nexo causal diz respeito às condições mediante as quais o dano deve ser imputado objetivamente à ação ou omissão de uma pessoa”. Portanto, nexo causal requer-se que haja uma relação necessária entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, ou seja, que exista entre ambos uma relação de causa e efeito. Para o professor Arnaldo Rizzardo o nexo de causalidade nada mais é que a relação verificada entre determinado fato, o prejuízo e um sujeito provocador. Aguiar Dias, em sua obra, determina categoricamente que é preciso demonstrar sempre no intento de uma ação indenizatória que, sem o fato alegado, o dano não se teria produzido. Aguiar (2006,p.24)
Diferentemente do Direito Penal, que adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, para a qual “causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, sem distinção da maior ou menor relevância que cada uma teve”; o professor Sérgio Cavalieri Filho sustenta que o Direito Civil adotou a teoria da causalidade adequada, em que “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes, mas somente aquela que foi mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Ou seja, na baia da Responsabilidade Civil, será verificado se a causa é ou não idônea a produzir o dano, somente sendo causa aquilo que for adequado a produzi-lo.
Existem causas que excluem o nexo causal e que, por conseguinte, são aptas a excluir a responsabilidade. A ratio da concepção dessas excludentes é que ninguém pode responder por um resultado a que não tenha dado causa. Em resumo, “causas de exclusão do nexo causal são, pois, casos de impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação não imputáveis ao devedor ou agente”. São exemplo de excludentes de ilicitude, conforme está disposto no art. 188 do nosso Código Civil, os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido e a deterioração ou destruição de coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Podemos citar um exemplo: um fiel depositário é incumbido de guardar um automóvel durante anos. Mesmo bem acondicionado em local seguro e limpo, o veículo sofreu os danos provenientes da deterioração fruto do tempo parado. Não há que se falar de responsabilidade do fiel depositário a cerca dos danos causado ao veículo.
- Ação
A ação, como elemento da responsabilidade civil, decorre de uma conduta praticada pelo homem mediante a infração de um dever preexistente. Essa proibição decorre geralmente de uma imposição legal, contratual e social, constituindo-se num ato ilícito.
Para o professor Sérgio Cavalieri Filho,
“A ação é a forma mais comum de exteriorização da conduta, porque, fora do domínio contratual, as pessoas estão obrigadas a abster-se da prática de atos que possam lesar o seu semelhante, de sorte que a violação desse dever geral de absterição se obtém através de um fazer. Consiste, pois, a ação em um movimento corpóreo comissivo, um comportamento positivo, como a destruição uma coisa alheia, a morte ou lesão corporal causada a alguém, e assim, por diante. Já, a omissão, forma menos comum de comportamento, caracteriza-se pela inatividade, abstenção de alguma conduta devida” (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 24)
.
Portanto, nessa linha de raciocínio, se a conduta infracional ocasionar dano a outrem, ficará o sujeito obrigado a repará-lo. Nisso consiste o princípio da responsabilidade civil, cujo fundamento encontra-se expresso no artigo 927 do Código Civil: “aquele que por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”.
Além disso, o comportamento humano como pressuposto da responsabilidade civil, não se configura apenas diante de um ato ilícito, mas também mediante um ato que, embora lícito, é capaz de ocasionar um dano a outrem, gerando, por conseguinte o dever de indenização, exemplo clássico disto, a requisição do veículo de alguém pela polícia para auxílio à perseguição a suspeitos de cometerem crimes. Caso o veículo seja avariado, cabe ao Estado o dever de indenizar, apesar da ação de requisitar o veículo não seja ilícita.
Além, dessas características a ação humana pode ainda revestir-se de um ato comissivo, consistente na prática da conduta, ou ainda de um ato omissivo, cuja constatação verifica-se pela não observância do agente a um dever, que estaria obrigado a executar.
Em todas essas situações, para que fique configurada a responsabilidade civil, a ação ou omissão deverá ocorrer de forma voluntária, sem interferências que excluam o controle do ato por parte do homem. Como fato gerador da responsabilidade civil, a ação não implica necessariamente numa conduta do próprio agente, podendo essa conduta decorrer de um terceiro.
Maria Helena Diniz neste ponto nos esclarece:
A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a ser o ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro , ou o fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado. (Diniz ,2003, p.39):
- Culpa como fundamento da responsabilidade civil
Um dos pressupostos da responsabilidade civil se estabelece com base na culpa, cujo fundamento está previsto no artigo 186 do Código Civil brasileiro que determina, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito”. O professor Sergio Cavalieri Filho assim nos esclarece a cerca da culpa:
A conduta culposa o agente erige-se, como assinalado, em pressuposto principal da obrigação de indenizar. Importa dizer que nem todo comportamento do agente será apto a gerar o dever de indenizar, mas somente aquele que estiver revestido de certas características previstas na ordem jurídica. A vítima de um dano só poderá pleitear ressarcimento de alguém se conseguir provar que esse alguém agiu com culpa; caso contrário, terá que conformar-se com sua má sorte e sozinha suportar o prejuízo. (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 29)
Portanto, para que haja obrigação de indenização, não bastará apenas a violação, pelo autor, de um direito subjetivo de outrem ou a infração de uma norma jurídica, sendo necessário que o autor tenha agido com culpa e que a vítima possa comprovar esta culpa.
Parte da doutrina avalia a culpa com fundamento numa conduta pessoal do agente que seja merecedora de censura ou reprovação do direito. Porém não será considerada como reprovada quando ficar demonstrado que o agente estava impedido de agir de outro modo. Como já foi mencionado anteriormente no caso de deterioração ou destruição de coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, por exemplo destruir uma porta para salvar alguém dentro de uma casa em chamas, ou abrir um veículo para resgatar um bebê esquecido lá dentro.
O juízo de reprovação próprio da culpa pode revestir-se de uma intensidade variável, levando em conta a intenção do agente na obtenção de um resultado prejudicial a outrem.
O autor do dano, assim, agindo ou omitindo-se voluntariamente, de forma a buscar e obter um resultado que seja danoso ao interesse alheio, estará caracterizada a culpa lato sensu denominada “dolo”. O professor Sérgio Cavalieri Filho assim definiu o dolo:
[...] há no dolo conduta intencional, dirigida a um resultado ilícito. Dolo, portanto, é a vontade conscientemente dirigida à produção de um resultado ilícito. É a infração consciente do dever preexistente, ou o propósito de causar dano a outrem. [...] (CAVALIERI FILHO, 2010, P. 31).
Já, com relação ao dano causado pela ação ou omissão do agente decorrente de uma negligência, imprudência ou imperícia, classifica a culpa em stricto sensu.
Em síntese, pode se concluir que o dolo é a vontade consciente de violar o direito objetivando a consecução do ato ilícito. No tocante à culpa, essa abrange a imperícia, a negligência e a imprudência. Neste ponto, devemos remeter a questão da falta de cuidado. Devemos nos perguntar se o resultado foi previsto, havia a possibilidade do agente prevenir? Será que era possível prevenir e se não o fez, quais as causas desta ação pelo agente? Podemos responder estas questões de forma muito simples: o agente faltou com a cautela devida, violando assim, o dever de cuidado que podemos caracterizar como a própria essência da culpa. Diante disto, a caracterização da culpa, com base na imperícia decorre da falta de habilidade ou inaptidão para a pratica de determinado ato. Em se tratando da culpa decorrente da negligência, essa se baseia na inobservância de normas que ordenam a agir com atenção, capacidade, solicitude e discernimento. Já a imprudência se denota pela falta de cautela exigida pelo ato.
A culpa, sob os aspectos consagrados da negligência, imprudência e imperícia, contém uma conduta voluntária, mas com resultado não desejado pelo autor. O critério para que se possa aferir e, por conseguinte, definir a culpa na conduta do agente, deve ser realizado através de uma comparação de comportamento do agente com o do homem normal, que diligentemente prevê o mal e precavidamente evita o perigo.
Observa-se, que em qualquer de suas modalidades, a culpa resulta na violação do dever de previsibilidade de certos fatos ilícitos, bem na ausência de medidas capazes de evitá-los.
A doutrina tradicional triparte a culpa em três graus: grave, leve e levíssima. O professor Sérgio Cavalieri Filho nos elucida:
[...] a culpa será grave se o agente atuar com grosseira falta de cautela, com descuido injustificável ao homem normal, impróprio ao comum dos homens. É a culpa com previsão do resultado, também chamada de culpa consciente, que se avizinha do dolo eventual do Direito Penal. Em ambos há previsão ou representação do resultado, só que no dolo eventual o agente assume o risco de produzi-lo, enquanto na culpa consciente ele acredita sinceramente que o evento não ocorrerá.
Haverá culpa leve se a falta puder ser evitada com atenção ordinária, com o cuidado próprio do homem comum, de um bônus pater famílias.
Já a culpa levíssima caracteriza-se pela falta de atenção extraordinária, pela ausência de habilidade especial ou conhecimento singular. (CAVALIERI FILHO , 2010, p. 37 - 38)
Portanto, podemos classificar como grave aquela decorrente da imprudência ou negligência extrema do agente, não prevendo aquilo que seria previsível a qualquer homem comum.
Já para a caracterização da culpa leve tem-se entendido que a lesão do direito poderia ser evitada mediante uma atenção ordinária do agente ou através da adoção de diligências próprias de um bom pai de família.
Com relação à culpa levíssima, será levada em conta uma atenção extraordinária por parte do autor, além de especial habilidade e conhecimento
específico para evitar a ocorrência do dano.
Mesmo com as importantes distinções, para a maioria dos juristas o grau de culpa não exerce qualquer influência na reparação do dano. Mas, o Código civil menciona no artigo 944, parágrafo único que o juiz estará autorizado a decidir equitativamente se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.
Novamente o professor Sérgio Cavalieri Filho nos elucida a cerca da valoração do dano causado. Segundo este doutrinador, “O parágrafo único do art. 944 do Código Civil autoriza a reduzir equitativamente a indenização devida à vítima quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.” Cavalieri Filho (2010, p. 36)
Nessa linha de raciocínio lhe restará autorizado reduzir, equitativamente, a indenização, caso constate excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.
Nas palavras do professor José Aguiar Dias entende-se como culpa:
A culpa é a falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das consequências eventuais de sua atitude. (Dias, 1979, p.136)
Por fim, é válido expor outra circunstancia a ser considerada para a avaliação da culpa. Trata-se da ocorrência do caso fortuito ou força maior, pois se estes tornarem imprevisíveis as consequências da conduta não haverá como configurar a culpa. Como por exemplo, um motorista que trafega em uma avenida bem pavimentada, muito bem sinalizada, mas de repente é atingido por enormes flocos de granizo, provenientes de uma chuva surpresa. Seu automóvel fica muito avariado, no entanto, não há que se falar em responsáveis pelos danos, haja vista, que se trata de caso fortuito.
- Do nexo de causalidade
Por se tratar de um dos elemento necessários para configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário aprofundarmos um pouco mais a cera o tema, apesar de já tê-lo trabalhando anteriormente. O nexo de causalidade se define como o vínculo entre o prejuízo e a ação danosa e caracteriza-se como uma relação indispensável entre o dano e a ação que o produziu, de forma que esta é considerada como sua causa.
O professor Sílvio de Salvo Venosa conceitua brilhantemente o que seja nexo de causalidade:
O conceito de nexo causal, nexo etiológico ou relação de causalidade deriva das leis naturais. É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação causal que concluímos que foi o causador do dano. Rata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culta, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida. (VENOSA, 2003, p.39)
Sem essa relação de causalidade não se admite a obrigação de indenizar, conforme prevê expressamente no artigo 186 do Código Civil brasileiro. Atribuí expressamente o referido artigo a obrigação de reparar o dano àquele que, por ação ou omissão, negligência ou imperícia, causar prejuízo a outrem. Portanto, o dano só poderá gerar responsabilidade quando for possível identificar entre ele e seu autor um nexo causal.
De outro modo o evento danoso pode advir de vários comportamentos, os quais acabam de alguma forma contribuindo para o seu resultado, às vezes torna difícil identificar o elo de causalidade entre o ato de uma pessoa e o dano causado. O aparecimento dessas várias condutas denomina-se “concausas”, as quais podem caracterizar-se como sucessivas ou simultâneas. Podemos dizer que concausas são circunstâncias que concorrem para o agravamento do dano, mas que não têm a virtude de excluir o nexo causal desencadeado pela conduta principal, nem de, por si sós, produzir os danos.
Nas causas simultâneas há ocorrência de um só dano cuja causa pode ser atribuída a várias pessoas. Nessa hipótese, o Código Civil brasileiro estabelece no artigo 942, parágrafo único que a responsabilidade é solidária. No entanto, com relação às causas simultâneas, em que se estabelece uma cadeia de causas e efeitos, torna-se difícil identificar a qual delas deverá ser atribuída a responsabilidade do dano. Nessa perspectiva destacam-se três principais teorias que orientam a respeito: a da equivalência das condições, a da causalidade adequada e a que exige que o dano seja consequência imediata do fato que a produziu.
Pela teoria da equivalência das condições, toda e qualquer circunstância que possa causar prejuízo é considerada como causa eficiente, que se suprimida alguma delas o resultado danoso não ocorreria. Tal teoria aplicada isoladamente levaria ao absurdo, pois nesta não seria possível estabelecer a responsabilidade de forma finita.
A segunda teoria, a da causalidade adequada, leva em conta que na ocorrência de determinado dano deverá obter como conclusão que o fato que o
originou era capaz de lhe dar causa.
A terceira teoria, a dos chamados danos diretos e imediatos, é denominada como teoria da interrupção do nexo causal. Por esta teoria, o resultado danoso estaria vinculado a uma causa que seria o elo entre a conduta e o dano, se não fosse o surgimento de uma outra circunstância que acabasse por responder pelo evento danoso. Essa circunstancia se constitui, segundo alguns doutrinadores na chamada “causa estranha”.
Com isso, é indenizável todo dano que se vincule a uma causa, ainda que remota, desde que não exista outra que explique o mesmo dano. É necessário destacar que, das várias teorias sobre o nexo causal, o Código Civil brasileiro adotou a do dano direto e imediato, conforme dispõe o artigo 403: “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. Segundo essa teoria, nem todo fator que desemboca no evento danoso será necessariamente causa do dano. Desse modo, nem toda condição que influenciou o resultado danoso será causa necessária. Pouco importa a distância temporal entre o fato e o dano, pois o que rompe o nexo causal é o surgimento de outra causa não o tempo. Há que se traçar um liame lógico-jurídico para verificar a causa necessária para o dano
O legislador, ao adotar essa regra, impossibilitou a admissão da responsabilidade ilimitada, a fim de que o autor do dano não sofresse todas as
nefastas consequências do seu ato, quando estas já não tivessem ligadas a ele
diretamente.
- Nexo de Causalidade entre a Conduta Omissiva e o Evento Danoso
Já discorreu-se acerca de forma bastante completa sobre o nexo de causalidade, elemento importantíssimo para o exame da responsabilidade civil. Agora vamos analisar o nexo de causalidade a luz do caminho entre a conduta omissiva e o evento danoso.
Já foi exposto que o Direito Civil brasileiro adotou a teoria da causalidade adequada em sede de Responsabilidade Civil. Para esta teoria, será causa do evento danoso somente aquela que for mais adequada a produzi-lo.
Estamos a partir daqui adentrando no tema do nosso trabalho. Analisar-se-á a partir deste monento a conduta omissiva do pai em relação ao seu filho, no que diz respeito ao abandono afetivo é caminho para a configuração do dano causado ao menor. Logo, deverá ser verificado se a conduta omissiva é idônea a produzir danos à pessoa do filho. Nesse mote, importa a perícia técnica ou observações feitas pelos profissionais da educação e saúde avaliar se, a partir dos fatos apresentados e provados, a omissão foi causa adequada à produção da lesão à dignidade do menor, nos seus aspectos psicofísicos e de inserção social e familiar.
A importância do nexo causal dá-se em decorrência da sua habilidade em impedir o regresso das causas ao infinito. É ele quem limita as hipóteses de relação causa e consequência, inviabilizando o provimento de pleitos indenizatórios de danos gerados por outras causas além dos fatos alegados na causa de pedir, ressaltando-se que excluem o dever de indenizar, por quebrarem o nexo de causalidade.
- Do dano
Segundo o professor Carlos Roberto Gonçalves, citando Agostinho Alvim
[...] dano, em sentido amplo, vem a ser a lesão de qualquer bem jurídico, e ai se inclui o dano moral. Mas, em sentido estrito, dano é, para nós, a lesão do patrimônio; e patrimônio é o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro. Aprecia-se o dano tendo em vista a diminuição sofrida no patrimônio. Logo, a matéria do dano prende-se à da indenização, de modo que só interessa o estudo do dano indenizável. (GONÇALVES, 2006, p.545)
Segundo este entendimento, o conceito clássico de dano, que se constitui em penas uma diminuição do patrimônio, nesta nova interpretação dano também é a diminuição ou subtração de um bem jurídico o que abrange não só o patrimônio, mas a honra, a saúde, a vida, suscetíveis de proteção.
Somente haverá possibilidade de indenização se ficar constatado que o ato ilícito resultou um dano. Dessa forma, como regra gera, a inexistência de dano obsta a pretensão de uma reparação. Portanto, ainda que tenha ocorrido a violação de um bem jurídico em que se tenha definido a culpa e o nexo de causalidade, se não ficar constatado prejuízo, nenhuma indenização será devida.
Além de se exigir o prejuízo, fundamental será, consideradas algumas exceções, que o dano aconteça no momento da ação e ainda que seja fundado em um fato preciso e não hipotético.
Define-se por dano a lesão de qualquer bem jurídico, incluindo nessa definição o dano moral.
A apreciação do dano é avaliada com base na diminuição sofrida pela vítima em seu patrimônio. Pode-se encontrar duas hipóteses de danos, cuja distinção se faz, levando-se em conta a esfera de interesses que é atingida pelo ato danoso. Quando o dano repercutir na esfera patrimonial da vítima, possibilitando avaliar o prejuízo de forma pecuniária, este recebe a definição de dano patrimonial.
Por outro lado, se o dano vier a lesionar interesses não patrimoniais, estará configurado o dano moral, que se define por afetar o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Em razão da relevância para o objetivo deste estudo, o dano moral será tratado de forma mais aprofundada no tópico a seguir.
- Do Dano Moral
Por muito tempo indagou-se qual seria a definição de dano moral. Em principio, estabeleceu-se, pela prática, que o dano moral era representado pelas lesões que não atingiam o patrimônio material do indivíduo, mas perfeitamente detectável em muitos casos. Parte da doutrina entendia o dano moral como somatória de todas as lesões sofridas pelo individuo em seu patrimônio ideal, de forma a lhe causar tristezas, angústias, reprovação social e até máculas em sua honra.
O professor Orlando Soares menciona a definição do dano moral:
O conceito de dano moral diz respeito à ofensa ou violação que não fere propriamente os bens patrimoniais de uma pessoa – o ofendido, mas os seus bens de ordem moral, tais como os que se referem à sua liberdade, honra (à sua pessoa ou a sua família), compreendendo-se na ideia de honra o que concerne à fama, a reputação, conceito social, estima dos outros. (Soares ,1997, p. 74)
Na vida em sociedade as ações humanas individuais ou coletivas, além de se manifestarem por inúmeros e diversos atos também se caracterizam pelo modo como esses são realizados. Isso quer sinalizar que, há condutas humanas que, na órbita do direito, configuram-se como lesivas aos interesses alheios, acarretando um dano, que aliado aos demais elementos da responsabilidade civil, geram a necessidade de reparação. Essa necessidade tem se manifestado na consciência dos povos desde os tempos imemoriais, como consequência das exigências que são naturais da própria vida em sociedade.
Cumpre ao direito regular a defesa dos valores supremos da sociedade e da pessoa, e dessa forma garantir que as interações sociais se estabeleçam dentro de um conjunto harmônico e pacífico.
No que tange esse regulamento, o ordenamento jurídico de forma sistematizada, dita os comportamentos autorizados bem como os proibidos. Por outro lado, também estabelece um mecanismo que permite a submissão do agente, de forma patrimonial ou pessoal. Destarte, quando a ação ou omissão do agente se revelar em conflito com o ordenamento jurídico e causar lesões aos interesses sociais ou individuais, ou em ambas as naturezas, estará configurada a sua submissão, e por conseguinte, a sua responsabilidade.
Admite-se, nesse plano, que as ações ou omissões lesivas rompem o equilíbrio existente no mundo real, acarretando ônus ao lesado na ordem física, moral ou pecuniária. Tal ônus, à luz do direito, confere ao lesado poderes para a defesa dos interesses violados.
Caberá ao direito preservar a integridade moral e patrimonial das pessoas, de forma a assegurar o equilíbrio não apenas no meio social, como também na vida individual de cada um de seus membros. Dentre essa preservação patrimonial e moral distingue-se o campo de incidência do dano: material ou moral.
O entendimento com relação à caracterização do dano material encontra- se em um prejuízo de ordem pecuniária experimentado pelo individuo, em virtude de um ato lesivo sofrido.
Já, em sede de dano moral, os bens atingidos pelo ato ilícito recaem sobre o patrimônio ideal do indivíduo. Tem-se entendido por patrimônio ideal os bens não manifestáveis na esfera material e visual, mas sim representados por valores sentimentais, espirituais e emocionais, dentre outros de mesmas características. Esses valores são intrínsecos ao homem e neles se assentam a sua vida como individuo e como ente social.
Nessa linha de raciocínio, manifesta-se Rodrigo Mendes Delgado:
Assim, os danos morais concernem aos danos ocasionados à alma, aos sentimentos, numa visão romântica da realidade, são os danos ocasionados ao coração. Logo, os danos morais são aquela categoria de danos que afetam o âmago do indivíduo, sua intimidade moral e espiritual, suas afeições, enfim, seus sentimentos, causando-lhe, por conseguinte, dor, sofrimento, angústia, menosprezo pelos que o cercam, sendo um forte fator de desequilibro mental, sendo ainda a gênese de vários distúrbios emocionais, como a depressão”. (Delgado,2003, p. 231)
Ainda nessa perspectiva, é salutar trazer à discussão os preciosos ensinamentos do professor Carlos Roberto Gonçalves quando ele diz:
O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dou ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes d privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. Por exemplo: se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados ara reclamar indenização, mesmo quando esse fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vitima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas tão somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as consequências da lesão jurídica por eles sofrida. (GONÇALVES, 2006, p. 566)
Embora, haja a distinção entre dano material e dano moral, há que se considerar que o conjunto de bens de um indivíduo é o somatório, tanto dos bens patrimoniais, como dos bens morais.
1. 4.1 Da Evolução Histórica do Dano Moral
O instituto do dano moral passou por uma lenta evolução que, de início destacou-se pela sua total recusa. A repulsa pela irreparabilidade do dano moral era fundamentada por defensores, sob o pretexto de que não se poderia atribuir um valor à dor. Tal valoração no entendimento dessa era algo inadmissível.
Outro argumento utilizado era pautado na impossibilidade de se atribuir um valor exato à reparação do dano sofrido, uma vez que os reflexos do dano moral não incidiam na esfera patrimonial do ofendido. Nessa ocasião, imperava a total negação da indenização por danos morais.
Num segundo momento passou-se a admitir a tese da indenização por danos morais. No entanto, era necessário que o dano tivesse repercussão na esfera patrimonial do ofendido.
Dessa forma, ainda que admitida a indenização por dano moral, este continuava irreparável, haja vista que o dano moral não guardava qualquer vinculação com o patrimônio material, mas sim com o patrimônio ideal do indivíduo.
Nessa perspectiva, dar valor ao dano imaterial apenas se este estivesse vinculado ao dano material, ainda não traria a obtenção da melhor justiça. Por conseguinte, à medida em que, foi sendo constatada a dimensão dos danos que afetavam de forma prejudicial a estrutura moral e íntima da pessoa, tornou-se insustentável os argumentos dos defensores da irreparabilidade do dano moral.
Com efeito, paulatinamente os tribunais foram aceitando a reparabilidade dos danos morais. Mas, a consagração definitiva veio com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que fez expressa menção ao mesmo, em seu artigo 5º, V e X, nos seguintes termos:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residente no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem?
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
O que se observa é que com os consequentes desdobramentos na evolução histórica, ficou reconhecida de forma definitiva a reparabilidade do dano moral o que garantiu proteção às lesões que traziam repercussões na alma, no íntimo e no psique da vítima.
Nesta perspectiva é sempre bom nos remeter aos importantes ensinamentos do professor Silvio Salvo Venosa, o qual fala sobre o dano moral como sendo o:
[...] o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diurnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. (VENOSA, 2003, p.33)
Destaca-se que o reconhecimento de dano moral coloca fim à impunidade do ofensor e consagra os valores humanos como sendo os responsáveis pela verdadeira existência do homem enquanto ser humano.
1.4.2 Da Constatação do Dano Moral
Diante do conceito de que os danos morais não repercutem na esfera do patrimônio material do individuo, torna-se difícil especificar como o referido dano pode ser constatado.
Alguns doutrinadores manifestam entendimento no sentido de que o dano moral não precisa ser provado. No Entanto, apesar da dificuldade de se provar o dano moral essa exigência não está descartada.
Entretanto, há posicionamentos divergentes no sentido de que se fará necessário provar o prejuízo dentro da regra geral da responsabilidade civil, apenas se a vítima desejar ser reparada por danos materiais.
Contribuindo acerca desse entendimento, se manifesta o Professor João Castilho:
[...] se a vítima pretender indenização por danos materiais, aí sim, deverá fazer prova dos prejuízos dentro da regra geral. Mas, havendo apenas o dano moral, a indenização é devida, sem qualquer prova de reflexo patrimonial negativo. Para se identificar a existência do dano moral há que se verificar com precisão quais provas seriam realmente necessárias, para não se exigir da vítima um amontoado de provas relativas ao evento danoso. Assim, em determinadas situações, exigir da vítima, além da narração de todas as circunstancias, que já lhe acarretaram sofrimentos, angústias e humilhações, que apresente provas seria o mesmo que lhe causar os mesmos sofrimentos novamente. (Castilho 1987, p.170)
Para Silvio Salvo Venosa, a prova do dano moral:
[...] por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal oi pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem duvida, de máximas da experiência. Por vezes, todavia, situações particulares exigirão exame probatório das circunstâncias em todo da conduta do ofensor e da personalidade da vítima. A razão da indenização do dano moral reside no próprio ato ilícito. Deverá ser levada em conta também, para estabelecer o montante da indenização, a condição social e econômica dos envolvidos. (VENOSA, 2003, p. 37)
Portanto, não é possível, em uma análise desavisada, mensurar o tamanho do dano moral, o quanto se pode repará-lo pecuniariamente. Cabe ao magistrado, através de sua experiência e sensibilidade, promover um juízo acera dos eventos que proporcionaram a dor, a vergonha ou a insatisfação e como estes sentimentos interferiram na vida cotidiana do ofendido. Outro aspecto a ser considerado, é a situação econômica dos envolvidos, uma vez que não a o que se falar em exigir uma indenização de grande monta contra o agressor de poucas posses. A sentença não será cumprida e a sensação de injustiça marcará para sempre a vítima.
CAPÍTULO 2- DA FAMÍLIA
A professora Maria Berenice Dias, desenvolve em sua obra uma interessante analise a cerca da origem da família, segundo ela:
Vínculos afetivos não são uma prerrogativa da espécie humana. O acasalamento sempre existiu entre os seres vivos, seja em decorrência do instinto de perpetuação da espécie, seja pela verdadeira aversão que todas as pessoas tem à solidão. Tanto é assim que se considera natural a ideia de que a felicidade só pode ser encontrada a dois, como se existisse um setor da felicidade ao qual o sujeito sozinho não tenha acesso.(DIAS, 2009, p. 27).
Nessa preceptiva, as famílias nascem da necessidade dos indivíduos em serem felizes. Necessidade esta, presente em praticamente todos os seres humanos.
No entanto, podemos dizer que a família é a instituição na qual, geralmente o ser humano é inserido quando do seu nascimento. É na família que se instala o dever de formação dos indivíduos que a integram, de modo a lhe conferir a devida proteção enquanto filhos e, por conseguinte uma vida digna como ser humano. Portanto, é primaz que a família seja capaz de suprir as diversas necessidades humanas e sociais de seus integrantes.
O suprimento de tais necessidades deve ser oportunizado na família por critérios de condutas baseados em princípios e valores que promovam, dentro de um contexto afetivo, o respeito e o diálogo entre seus membros.
Nessa perspectiva, o indivíduo poderá, de forma saudável, desenvolver suas potencialidades, estruturando-se em seus futuros relacionamentos com o mundo que o cerca. Para compreender a concepção de família, é importante compreender as suas várias transformações no decorrer dos tempos.
2.1 Evolução Histórica
A família românica e canônica foram as bases principiológicas e fundamentais das famílias contemporâneas, os quais influenciaram decisivamente sua evolução ao longo da história.
A organização da família romana na antiga Roma era estabelecida com base na autoridade conferida ao ascendente mais velho, sendo este reconhecido como pater famílias. Não era raro o culto aos antepassados, onde se construía pequenas imagens e altares eram erguidos para sua veneração, sempre na busca de proteção e sabedoria nos dilemas da vida. Portanto, a autoridade dos mais velhos eram sedimentada dentro das famílias cultuada após a morte destes.
O pai exercia o chamado pater famílias, o qual detinha o poder político, religioso e de juiz sobre todos os seus descendentes. Não se valendo apenas sobre seus familiares de laços sanguíneos mas sim, sobre todos que com ele coabitavam, como sua esposa, escravos, agregados, podendo inclusive, dispor sob eles o direito de vida e morte.
Apresentava-se assim, o modelo clássico da família romana, conhecido como “patriarcal e hierarquizado”, caracterizando uma unidade política, jurídica e religiosa. Predominava neste sistema do patriarcado a família padrão submetida à lei da desigualdade, onde todos que não serviam ao sistema eram excluídos. Nesse sistema a mulher era reduzida a um ser juridicamente incapaz, e casando ficava também submetida ao poder do pater famílias. Essa submissão compreendia, seu corpo, seus bens que incorporavam o patrimônio do pater famílias a título de dote, e sua servidão eterna, pois naquele momento não havia a menor possibilidade de se desvencilhar do casamento.
Para o pai romano o importante era procriar filhos com o objetivo de os tornarem sucessores da fortuna. Nascia portanto, a primeira forma de família conhecida, cujo fundamento era sustentado pelos valores econômicos. Embora o afeto natural pudesse existir, e muitas vezes existia, não era o elo entre os membros da família o elemento agregador, prevalecia sim, os vínculos jurídicos e os laços de sangue sobre os vínculos do amor. Esse modelo sofreu uma evolução cuja maior repercussão foi no sentido de restringir progressivamente a autoridade do pater, dando maior autoridade à mulher e aos filhos.
Também se operou com essa evolução a perda do poder de vida e morte do pater sobre a mulher e seus filhos. Nesse momento os filhos passaram até a administrar suas próprias rendas.
As famílias romanas evoluíram assim como a própria Roma. Em tempos do Império, o casamento ficava condicionado ao afeto marital, o qual deveria fazer parte não só da celebração, mas como também ao longo da vida conjugal. Nesse importante momento o parentesco assume uma nova roupagem, passando a ter como fundamento a vinculação do sangue, o que trouxe modificações importantes, que amenizaram o rígido poder do pater.
Os filhos tornaram-se mais independentes, o mesmo acontecendo com relação à mulher, que passou a participar de atividades anteriormente não permitidas.
2.2 A Família na Idade Média
Embora na Idade Média ainda houvesse a presença de muitos institutos do direito romano antigo, a Europa passa por um longo período de recolhimento cultural e intelectual. As famílias mais abastardas se encastelaram, imperava o medo. Alimentando esse medo, estava a doutrina da potência cultural, econômica e politica que emergia em todos os cantos, a Igreja Católica. O que viu a partir dai foi a imposição do duro e regrado tutelamento do direito canônico sobre as famílias.
Com base no direito romano, nos séculos X e XV o reconhecimento tão somente do casamento religioso, tendo esse sido consagrado como um vínculo indissolúvel entre o homem e a mulher.
Nessa fase a família foi transformada pela igreja numa verdadeira instituição religiosa, confessional, nela se criou um verdadeiro local para os cultos que eram dirigidos pela figura paterna, onde cada um dos componentes da família assumia funções determinadas, com objetivo de proporcionar mútua assistência entres seus integrantes.
O matrimônio passa a ser considerado um dos sacramentos da igreja, pelo qual só através deste, se reconhecia à prole legítima, apenas esta descendência abençoada pela igreja. Desse modo, ficou caracterizada a primeira distinção entre os filhos provindos do casamento e fora do casamento, sendo os últimos desabrigados de qualquer proteção legal.
Essa visão de família, com algumas alterações, perdurou por longo período, durante praticamente toda a idade média, influenciando a evolução do direito de família em todos os países com seguimento católico.
Ao final da chamada “idade das trevas”, a Europa passa por profundas mudanças, nos campos da política, ciência, economia e cultura. Uma relativa paz e os frequentes questionamentos a cerca do poder da igreja e do poder absoluto dos reis, levaram a Europa a um turbilhão social. Após a Revolução Francesa em toda Europa o que se viu foi o estremecimento das bases dos poderes monárquicos.
Já em 1804 o modelo jurídico passou a adotar um sistema de regras redigidas em códigos, cujos precursores foram, naturalmente, os franceses com o Código Napoleônico. É o início da era codificada. A regra do código Napoleônico nas questões referentes ao direito de família tratou de reafirmar o modelo clássico romano da grande família patriarcal e hierarquizada sobre a autoridade do marido e do pai.
2.3 Família Originária no Código Civil Brasileiro
Constituição Republicana de 1891 nada ordenava sobre a matéria de família, fazendo apenas uma breve menção ao casamento civil. Foi apenas o Código Civil brasileiro de 1916, que esta matéria foi tratada o que regulamentou inteiramente as relações jurídicas atinentes à família, seguindo o modelo codificado francês. Essas regras tornaram-se lei fundamental.
O modelo de família que repousou no Código Civil de 1916 inspirava-se numa família patriarcal, funcional e hierarquizada, vinculadas aos laços sanguíneos, fundados no casamento. Demais disso, toda a união ocorrida sem a realização do casamento era tida como ilegítima.
Por conseguinte, era quase impossível o reconhecimento dos filhos extramatrimoniais, chamados de ilegítimos, tudo em prol dos valores morais e éticos vigentes na época.
Nesse modelo de família, o pai detinha amplos poderes, inclusive sobre a disposição de bens que a integravam, sua vontade imperava sobre a vontade familiar e sua única preocupação era dar continuidade à unidade familiar sem se preocupar com os desejos e sentimentos de seus membros, relegado esses a segundo plano. A posição ocupada pela mulher restringia-se tão somente ao papel de esposa submissa e obediente de mãe, competindo-lhe a organização das tarefas de casa e educação dos filhos que ocupavam apenas um papel de submissão, não lhes sendo cabível protestar qualquer ideia imposta pela autoridade paterna.
As ideias contrárias que porventura surgissem eram sufocadas além de acarretar-lhes punições severas executadas pelo seu chefe de família, na maioria das vezes, por atos violentos. Demais disso não cabia aos filhos nenhuma espécie de vontade ou sentimento, sendo-lhes negado, inclusive, o direito de escolher o cônjuge e também de optar por sua carreira profissional. Cabe ainda ressaltar que o poder do pai era limitado aos componentes da sociedade conjugal, haja vista que o ordenamento jurídico mantinha-se em silêncio nas questões atinentes às relações ilegítimas.
2.4 As Constituições Brasileiras e as Consequentes Repercussões na Família
As constituições brasileiras projetaram as fases históricas que o país viveu, em relação à família, no percurso do Estado Liberal para o Estado Social. As constituições de 1824 e de 1891 foram puramente liberais e não fizeram nenhuma referência à família. A Constituição de 1824, outorgada pelo Imperador D. Pedro I, dispôs apenas sobre a família imperial; a Constituição de 1891 fez referência apenas sobre o reconhecimento do casamento civil e a gratuidade de sua celebração. As Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967-1969 e 1988, são constituições que originaram de um Estado Social brasileiro, e são marcadas por momentos que vão do autoritarismo à democracia formal. Nessa trajetória a Constituição de 1934 dedicou um capítulo à família, mas não trouxe nenhuma forma de reconhecimento à família ilegítima.
A Constituição de 1937 definiu como família tão somente aquela constituída pelo casamento indissolúvel. No entanto, nesta há um reconhecimento da igualdade entre os filhos adquiridos antes da celebração do casamento, assim chamados de “filhos naturais”, com os filhos adquiridos na constância do casamento, definidos como “legítimos”. Nessa fase o Estado, como poder autoritário, coloca-se como tutor da infância e juventude, em substituição aos pais em caso de abandono.
A Constituição de 1946 também reforçava a indissolubilidade do casamento referenciando-se à família legítima sem fazer qualquer menção no tocante à igualdade entre filhos e cônjuges. Ainda nessa constituição, o Estado mantém-se como tutor assistencial, motivando o aumento da prole, prestando assistência à maternidade, à infância e à adolescência.
A Constituição de 1967 não trouxe nenhuma alteração significante nesse aspecto, mantendo o que já dispunha Constituição de 1946, exceto algumas modificações de ordem menos importantes.
A Constituição de 1969 também mantinha a referência apenas com relação à família constituída pelo casamento. No entanto, esta Constituição, através da Emenda número 9/77, tornou o casamento dissolúvel, através da instituição do
divórcio no Brasil.
2.5 O Novo Modelo de Família Recepcionado pela Constituição Federal Brasileira
A família atual muito se difere do modelo da família primitiva, a qual foi marcada pelo domínio patriarcal, tendo como base de seu fundamento uma relação mais propriamente de cunho patrimonial do que familiar.
Observa-se, que em decorrência das necessidades surgidas nesse organismo social, dada à dinâmica e inovação dos valores e tendências, grandes transformações foram sofridas na forma familiar de viver. Nesse sentido, deixou a família há muito tempo de ser sinônimo de unidade produtiva, para se revelar como entidade familiar, com base numa série de acontecimentos. Dentre esses acontecimentos destaca-se o processo de urbanização que representou uma mudança no local de produção, sendo esta deslocada do lar para o local de trabalho. Além dessa alteração, alguns costumes também foram modificados, incluindo dessa ocorrência, uma diminuição em relação ao número de filhos.
Destaca-se, ainda o ingresso da mulher no mercado de trabalho, a qual passou a contribuir no orçamento doméstico, conferindo-lhe uma maior independência e autonomia.
Nesse quadro é indiscutível uma nova valorização da mulher, que passa agora a ser considerada também responsável pelas despesas e tarefas domésticas.
Também na esfera filial houve uma significativa mudança nas funções desempenhadas pelos filhos, que já não eram mais distribuídas levando em conta a idade e o sexo, mas, sim de acordo com suas aptidões.
Nessa evolução há uma redução do grupo familiar. Surge então como reconhecimento de família aquela formada pelos pais e filhos, a qual ganhou status de família nuclear, ganhando uma nova dimensão, no convívio entre pais e filhos. Por conseguinte, os sentimentos entre os membros da família tornam-se mais acentuados, alargando a preocupação e a colaboração de uns para com os outros, surgindo uma nova noção de família, a família alicerçada no afeto e na ajuda entre seus membros.
No mesmo caminho, evidencia Jose Bernardo Ramos Boeira:
A família ao transformar-se, valoriza as relações de sentimentos entre seus membros, numa comunhão de afetividade recíproca no seu interior. Assim sob uma concepção eu do monista, a família e o casamento passa a existir para o desenvolvimento da pessoa, realizando os seus interesses afetivos e existenciais, como apoio indispensável para a sua formação e estabilidade na vida em sociedade.(BOEIRA, 1999, p.22-23)
Não são mais os vínculos de sangue e o patrimônio, que passaram a ocupar uma posição secundária, dando lugar ao vínculo afetivo entre seus membros.
Diferentemente, do que ocorria na família patriarcal, onde o afeto era presumido, na família atual este é a base de sua sustentação, cujo fundamento parte de dois princípios básicos: a liberdade e a igualdade. Dentre as diferentes relações familiares, ainda se constituía à margem do direito as chamadas “relações informais”, que eram totalmente ignoradas pelo Código Civil.
Já as uniões estáveis passaram a receber proteção através de leis extravagantes, mas apenas em determinadas situações. As relações informais continuavam a se estabelecer independentemente do reconhecimento jurídico.
Em linhas gerais, o desenvolvimento da família já não se adequava ao modelo legal, principalmente porque passou a ser parte integrante da família, um elemento que revolucionou as relações familiares: o afeto. O afeto, nesse aspecto, demonstrava a necessidade do individuo de estar junto a outra pessoa, repercutindo na indissolubilidade do vinculo matrimonial, pois esse já não era impedimento para que as pessoas formassem novas comunidades familiares ignorando assim, a imposição legal.
A família construída sob esses novos parâmetros impôs ao legislador uma reflexão e uma consequente mudança no direito, que embora tenha ocorrido de forma lenta, demonstrou a preocupação do legislador na elaboração de normas em conformidade com a realidade social.
Embora essa mudança se manifestasse de forma um tanto quanto lenta, era visível a preocupação do legislador na elaboração de regras que estivessem de acordo com a verdade social.
Nessa perspectiva, foi promulgada várias leis expressivas, visando amenizar discriminações e injustiças decorrentes da desigualdade de tratamento que o ordenamento impunha às diferentes relações familiares.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, uma nova tábua de valores é promovida. Tal valoração pode ser constatada com uma maior intervenção do Estado nas questões sociais.
Nesses novos valores é que estão disciplinadas as questões sociais, as quais foram objeto de preocupação do legislador, que buscou solucioná-las a fim de promover a justiça social., ocasião em que as questões atinentes à esfera familiar sofreram profundas transformações.
Na Constituição atual ficaram reconhecidas realidades sociais fáticas da família, desabrigadas até então pelo mundo jurídico, com propostas que alteraram a concepção jurídica de família. Dentre tais propostas duas revolucionaram o aspecto familiar: a primeira com a inclusão do conceito de entidade familiar no texto constitucional, através do art.226, sendo a segunda proposta a ideia que redimensionou a filiação. Porém, o fundamento maior dessas propostas alicerça-se no preceito constitucional estabelecido no artigo 1º, inciso III, que consagrou a dignidade da pessoa humana, como fundamento da República. De acordo com essa tendência, a realização do indivíduo como pessoa em qualquer agrupamento social, independentemente da posição ocupada ou do cargo exercido, goza de supremacia.
Nessa perspectiva, ficou conferida a devida proteção ao individuo de forma igualitária, já que qualquer desigualdade atinge diretamente a sua dignidade. Essa proteção constitucional não se limitou apenas ao individuo isoladamente, estendendo-se também à família, instituindo-a como base da sociedade, conforme disposto expressamente no art. 226. Assim, instituída colocou-se fim àquela comunidade hierarquizada, transformando-a em uma sociedade democrática, cujo fundamento encontra-se disposto no parágrafo 3º do art. 226 da Constituição Federal, que revela o Princípio da Igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher no casamento e na família.
Notável também a disposição contida no art. 227, parágrafo 6º que, também com base no Princípio da Igualdade, pôs fim ao tratamento desigual que era dado aos filhos por ocasião do vinculo familiar do qual faziam parte. Outra característica atribuída à família, com ao advento da Constituição Federal de 1988, foi o reconhecimento de sua pluralidade, consistente nas diversas formas pelas quais poderia ser constituída, mas independentemente dessa constituição, deve prevalecer como fundamento central o afeto e o desejo de estarem juntas.
A cara da família moderna mudou. O seu principal papel, ao que nos parece, é o de suporte emocional do indivíduo. A família de hoje, que não mais se consubstancia num grão de areia, praticamente carente de identidade própria, que vai juntar-se ao grupo familiar mais extenso (tios, avós, primos etc.) foi substituída por um grupo menor, em que há flexibilidade e eventual intercambialidade de papéis e, incontestavelmente, mais intensidade no que diz respeito aos laços afetivos.
É no reconhecimento dessa família nuclear que a Constituição da República oferece especial proteção, conforme previsão estabelecida no art. 226 e seus parágrafos. São essas previsões que se deduz que a Constituição da nova família deve promover a dignidade e o desenvolvimento da personalidade de seus membros. Outra característica atribuída à família, com ao advento da Constituição Federal de 1988, foi o reconhecimento de sua pluralidade, consistente nas diversas formas pelas quais poderia ser constituída.
Embora a proteção constitucional tenha abrangido todos os modelos de família, o legislador adotou como modelo ideal aquela constituída pelo matrimônio. As demais formas de instituição, assim denominadas de entidade familiar ou família monoparental, também são merecedoras da proteção estatal de acordo com o mandamento constitucional.
Destarte, compreende-se como entidade familiar àquela que abrange a união estável, reconhecida pela Constituição ao lado da família conjugal, para efeito de proteção do Estado.
Também estão tuteladas pela Constituição as famílias monoparentais, disposição expressa no art. 226, parágrafo 4º. A constituição dessas famílias são compreendidas como sendo aquelas formadas por qualquer um dos pais e seus descendentes.
Destarte, impõe-se reconhecer que a norma constitucional decorre da realidade social onde pessoas solteiras, viúvas ou separadas que moram sozinhas com seus filhos, situação que pode ter sido determinada por diversos fatos.
Esses fatos podem configurar-se pela separação legal ou de fato, pelo fim da união estável, pelo abandono, por morte, ou ainda pela vontade das partes como opção de vida.
Em suma, conforme os ensinamentos de Maria Berenice Dias:
O novo modelo da família funda-se sobre os pilares da repersonalização, da afetividade, da pluralidade e do eudemonismo, impingindo nova roupagem axiológica do direito de família. Agora, a tônica reside no indivíduo, e não mais nos bens ou coisas que guarnecem a relação familiar. A família-instituição foi substituída pela família-instrumento, ou seja, ela existe e contribui tanto para o desenvolvimento da personalidade de seus integrantes como para o crescimento e formação da própria sociedade, justificando, com isso, a sua proteção pelo Estado. (DIAS,2009,p.43)
Portanto, o modelo alicerçado no patriarca da família, baseado no poder absoluto da figura paterna, o qual exercia sobre os membros e agregados da família o direito de vida e morte, se resumia nas relações religiosas, econômicas e politicas, ficando o afeto em último lugar. Não que a família romana era totalmente desprovida de afeto, mas sim, este era um mero complemento e não o agente construtor das relações parentais. Muito pouco mudou durante a “idade das trevas”, as famílias continuavam sobre o julgo patriarca, mas agora as noções do divino e pecado regulavam todas as atitudes de seus membros. A Igreja Católica era detentora da verdade doutrinária do mundo, o casamento se tornou basicamente um sacramento, o reconhecimento civil da união matrimonial se confundia com o religioso. O dogmatismo da Igreja ainda persiste na ideia do casamento indissolúvel e do pecado das relações adulteras, como por exemplo, o casamento de pessoas divorciadas. Para a Igreja Católica, as pessoas que se unem em uma nova relação amorosa estão “vivendo em pecado”. Visão ainda muito difundida nos meios religiosos, mas que não persiste no modelo contemporâneo de família. Com a natural evolução da sociedade, o direito busca, ainda de forma muito lenta, atender as demandas emergentes no seio das famílias. O legislador brasileiro, vem ao longos de décadas, formulando e reformulando a visão do ordenamento jurídico acerca das famílias. Grandes e profundas alterações foram introduzidas na legislação civilista pátria. Mas acreditamos que a maior mudança é o reconhecimento que as relações familiares devem ser alicerçadas no afeto, diante disto, o reconhecimento das chamadas famílias plurais.
2.6 Família Alicerçada no Afeto
Como antes exposto, muitos foram os processos de mudança o qual a família vem passado ao longo de décadas, sendo o reconhecimento do papel do afeto o mais importante. É a presença do afeto que os indivíduos levam em consideração para se unirem em matrimônio ou fora dele. Mas é também pela sua falta que a pessoa rompe uma união.
Nesse liame, o direito de família evoluiu para um estágio em que as relações familiares se impregnam, ou pelo menos tentam, de autenticidade, sinceridade, amor, compreensão e diálogo, tentando afastar a falsidade, fazendo emergir as verdadeiras valorações que orientam as convivências grupais.
A família foi e sempre será a base para a sociedade, primeira escola, primeira catequese, primeiro ambiente de relações interpessoais, devendo portanto, ser cultivada em razão do entendimento recíproco, cooperação, companheirismo e cumplicidade. São estes os alicerces que dão sustento, o que deixa esta instituição erguida, capaz de vencer os desafios que a vida nos impõe. A família só poderá permanecer erguida se nela estiver presente o afeto.
Segundo Pietro Perlingieri, ao abordar a formação dos laços familiares contemporâneos:
O sangue e os afetos são razões autônomas de justificação para o momento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio constante e espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador comum de qualquer núcleo familiar. (PERLINGIERI, 1997, p.244)
Nessa linha de pensamento a real família é aquela onde os princípios constitucionais de liberdade, igualdade e dignidade se tornam pressupostos necessários para sua constituição.
A visão de família com base nesses princípios constitucionais é a tradução da compreensão e do amor mútuo entre seus membros, preservando assim o sentimento de união e verdadeira comunhão de vida na família.
Por conseguinte, pode se dizer que a afetividade é o elemento que vai tornar possível a união familiar, embora a sua realização deva primeiramente se concretizar na pessoa do grupo familiar.
A atual família retrata-se num espaço em que cada membro busca realizar-se, alcançando a felicidade com o apoio do outro. É só através do afeto que se torna possível a qualquer integrante da família dispor muitas vezes de algo que lhe restringe a sua esfera de liberdade em prol do crescimento e desenvolvimento do outro, produzindo, assim, efeitos que beneficiarão todo o grupo.
2.7 Conceito de Família na Contemporaneidade
Em sentido genérico e biológico considera-se família o conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum. Em linhas gerais a família abrange o cônjuge, os filhos do cônjuge, ou enteados, os cônjuges dos filhos, os cônjuges dos irmãos e os irmãos dos cônjuges.
Nessa ampliação de família os civilistas visualizam mais o modelo da família romana do que a família propriamente dita.
A família assim conceituada está na verdade longe de ser considerada como um importante organismo jurídico, pois embora conserve sentido sentimental e goze de prestígio, não sofre os efeitos imediatos que decorre das relações familiares reguladas pelo ordenamento jurídico.
Durante séculos a família poderia ser conceituada como um organismo extenso e hierarquizado, entretanto, face às evoluções que sempre se fizeram presentes neste organismo social, limitou-se a denominação de família, aquela compreendida entre os pais e filhos.
Nessa evolução, a família reduzida numericamente passa a ser considerada em relação ao princípio da autoridade, aos efeitos sucessórios e alimentares e às implicações fiscais e previdenciárias.
Depreende-se, em sentido estrito, a família que se restringe ao grupo formado pelos pais e pelos filhos. É nessa família que se concretiza a autoridade paterna e materna a qual tem como fundamento a criação e educação dos filhos, orientando-os no caminho da disciplina, bem como na aquisição dos bons costumes, lançando-os também em sua vida profissional.
Já em se tratando de efeitos sucessórios há uma ampliação desse conceito de família, pois nesta hipótese são consideradas como família todas as pessoas chamadas por lei a herdar umas das outras.
Conclui-se que dependendo das disposições mandamentais jurídicas esse conceito ora pode se restringir, ora poderá se ampliar. Na elaboração do conceito de família não se permite mais classificar como sendo ilegítima a família oriunda das relações extramatrimoniais, bem como as formadas pelo processo tradicional de adoção.
Essa proibição é fruto da Constituição de 1988 a qual colocou fim a qualquer designação discriminatória relativas à constituição da família.
Apesar dessa proibição muitos ainda renegam o conceito de família natural, denominação surgida em substituição à família ilegítima, sob o fundamento de dar proteção a família legítima, classificando a família natural como “família de segunda classe”.
Nesse impasse vale ressaltar o conceito de família natural expresso pelo artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente que identifica como “família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”.
Faz-se necessário ressaltar que no intuito de se de se conceituar a família, não se pode perder de vista que sendo esta um organismo social, suas normas não se limitam nas regras positivadas.
Destarte, a família também se define como sendo aquela normalizada pela religião, pela moral e pelos bons costumes. Ainda com a finalidade de se conceituar a família mais uma observação deve ser mencionada no sentido de tornar claro que a família, como conjunto, não recebe tratamento uniforme e pacífico.
Essa conclusão se baseia no fato de que a ordem jurídica se enfoca em razão de seus membros e de suas relações recíprocas, de sorte que estas são casuísticas apresentando-se sob os mais diversos tipos comportamentais.
Já com relação a família sócioafetiva, identificadas por alguns autores como família sociológica, o conceito tem sido estabelecido sob uma nova estrutura jurídica.
Com base nessa nova estrutura jurídica os membros componentes desta família alicerçam-se sobre os laços afetivos de solidariedade, sendo integral a participação dos pais na educação e proteção da criança, independente de algum vínculo jurídico ou biológico entre eles.
Cumpre observar que atualmente a concepção de família está alicerçada no afeto entre seus membros. Além disso, em virtude de ter sido consagrada pelo legislador constituinte como base da sociedade, exige-se que na família haja total implementação dos princípios constitucionais. Por fim, o afeto familiar deve ser protegido como forma de assegurar a construção de uma sociedade justa, livre e fraterna.
CAPÍTULO 3 - DA FILIAÇÃO NO DIREITO CIVIL
As relações biológicas e sociais dos membros da família são extremamente importantes para o direito, elas determinam os direitos à sucessão causa mortis; o dever de prestar alimentos; os impedimentos ao casamento; os impedimentos às testemunhas e magistrados; os obstáculos à nomeação para cargos de confiança no serviço publico.
A noção de filiação apoia-se na relação de parentesco, uma vez que se deve ao fato de representar a união de uma pessoa aos indivíduos que a geraram.
A procriação é um fato natural, mas o resultado dela é a filiação que é um fato jurídico com diversas consequências sobre o aspecto do direito, “sob perspectiva ampla, a filiação compreende todas as relações, e respectivamente sua constituição, modificação e extinção, que tem como sujeitos os pais com relação aos filhos” (Venosa, 2003, p.264).
Prosseguindo do entendimento de um passado não longínquo, a maternidade era sempre certa – mater semper certa est – o que não acontecia com a paternidade, que era sempre incerta – pater semper incertus est. Entretanto, dado os avanços tecnológicos e científicos, é possível afirmar com quase absoluta certeza a paternidade de determinado indivíduo.
Embora se possa ter uma afirmação quanto a paternidade e maternidade de um indivíduo, esta não é a única verdade que impera no cenário jurídico, uma vez que há que ser considerada as implicações de ordem afetiva e sociológica da filiação.
O Código Civil de 1916 trazia em seu ordenamento a expressão “família legítima” como sendo aquela oriunda do casamento e das justas núpcias. Tendo em vista que o contexto social da época se traduzia em repletos valores e dogmas patriarcais, a promulgação do Código Civil Brasileiro resultou em normas que não reconheciam os filhos advindos de uma relação espúria, ignorando o legislador uma situação social existente.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o direito de família brasileiro sofreu grandes transformações nos seus aspectos jurídicos, destacando se dentre eles a instituição do princípio da liberdade e igualdade. Com fundamento no princípio da igualdade os filhos advindos fora do casamento passaram a receber o mesmo tratamento jurídico dos filhos oriundo das relações matrimoniais. Por conseguinte, a Constituição da Republica retirou da legislação as terminologias “filiação legítima”, “ilegítima” ou adotiva, estabelecendo a igualdade entre os filhos.
3.1 A filiação no Direito Civil Brasileiro
O Código Civil de 1916 foi concebido através da ideia classificatória de filiação legítima, ilegítima ou ainda adotiva conforme as legislações vigentes na época em vários outros países.
Com relação à filiação legítima, o Código Civil de 1916, em sua redação explicitava que os filhos ilegítimos seriam aqueles concebidos na constância do casamento, mesmo que anulado ou nulo, se foi contraído de boa-fé. Ainda mencionava os casos em que haveria a legitimação do filho que seria equiparado aos filhos legítimos. A legitimação é decorrente do casamento dos pais, tornando-se, desse modo, legítimos os filhos havidos antes do matrimônio podendo beneficiar os filhos ilegítimos naturais.
Agora, ao tratar-se de filhos ilegítimos, dizia o mesmo ordenamento que esses eram os filhos que não possuíam os pais unidos através de laços matrimoniais distinguindo-se dentre os ilegítimos como os naturais e os espúrios.
Os filhos ilegítimos naturais eram aqueles advindos de uma relação entre os seus genitores não impedidos de contrair núpcias, ou seja, configura esse tipo de filiação a ideia de que aquele filho concebido em momento posterior ao casamento seria, portanto, filho ilegítimo natural. Já os filhos ilegítimos espúrios seriam incestuosos ou adulterinos. Filhos incestuosos caracterizavam-se pela procriação através de genitores que possuíam algum grau de parentesco proibido para o casamento, na maioria das vezes isso ocorria quando havia o advento de um filho da relação entre dois irmãos.
E filhos adulterinos eram aqueles havidos de uma relação fora do casamento. Dessa forma, entendiam os legisladores que a prole resultante de uma relação adulterina onde um homem casado ou um mulher casada obtivesse um filho com uma pessoa que não o seu cônjuge seria esse filho ilegítimo perante a lei e a sociedade da época.
A adoção para o ordenamento jurídico anterior e para o vigente é uma forma artificial de filiação que tem intenção de igualar a filiação natural, sendo também conhecida como filiação civil, nisso o seu resultado não é de uma relação biológica, mas de uma exterioração de vontade. No entanto, deve-se chamar atenção para o fato de que todas essas terminologias acerca da filiação encontram-se abolidas por força do parágrafo 6º do art. 227 da Constituição Federal que dispõe: Art. 227, parágrafo 6º: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.
A Constituição da República, em seu dispositivo constitucional do art. 227, parágrafo 6º, extirpou do Direito Civil todas as discriminações entre os filhos, tornando obsoletas as classificações entre legítimos , havidos na constância do matrimônio, ilegítimos, podendo ser adulterinos, incestuosos, etc. e os adotivos: todos têm os mesmos direitos, deveres e qualificações, ressalvados os impedimentos matrimoniais, que persistem em relação aos antigos parentes da pessoa adotada, para evitar casamentos consanguíneos. Diante disto, todas essas classificações com relação à filiação foram retiradas do ordenamento jurídico brasileiro em virtude do princípio da igualdade consagrado no art. 5º da Constituição da República de 1988. Avançando no direito civil brasileiro depara-se com o Novo Código Civil de 2002 que, em seus primeiros artigos relativos à filiação, já demonstra claramente a impossibilidade de distinção de direitos ou de qualificações entre as várias espécies de filiações, em conformidade com o dispositivo constitucional do mencionado.
O Novo Código Civil, em seu art. 1.597:
Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal;
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido;
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.
Este dispositivo trouxe ao ordenamento civilista inovações correlatas aos avanços científicos, pois ao fazer uma cópia do art. 338 do Código Civil de 1916 inovou, ao acrescer nesse rol três incisos (III.IV,IV) que tratam de filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga e havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que haja prévia autorização do marido.
Apesar de toda a evolução no diploma civilista, o legislador brasileiro optou por em tratar dos filhos em capítulos diferentes. Maria Berenice Dias nos explica:
Ainda que por vedação constitucional não mais seja possível qualquer tratamento discriminatório com relação aos filhos, o Código Civil trata em capítulos diferentes os filhos havidos da relação de casamento e os havidos fora do casamento. O capítulo intitulado “Da Filiação” (CC 1.596 a 1.606) cuida dos filhos nascidos na constância do matrimônio, enquanto os filhos havidos fora do casamento estão no capítulo “Do reconhecimento dos filhos” (CC.1.607 a 1.617). A diferenciação advém do fato do legislador ainda fazer uso de presunções quando se refere aos filhos nascidos do casamento. Tal tendência decorre da visão sacralizada da família e da necessidade de sua preservação a qualquer preço, nem que para isso tenha de atribuir filhos a alguém, não por ser pai ou mãe, mas simplesmente para a mantença da estrutura familiar. (DIAS, 2008, p. 321)
A professora Maria Berenice Dias ainda nos alude da importância do novo diploma constitucional que faz menção à filiação. Segundo ela:
Até o advento da Constituição, que proibiu designações discriminatórias relativas à filiação, filho era exclusivamente o ser nascido 180 dias após o casamento de um homem e uma mulher, ou 300 dias depois do fim do relacionamento. (DIAS, 2008, p. 322).
3.2 A Filiação na Constituição Federal de 1988
Constituição Federal de 1988 realizou profundas mudanças e aboliu a incomoda distinção que existia em relação à filiação. Portanto, com o advento desde preceito constitucional, ficaram revogadas todas as normas jurídicas que estabeleciam distinção entre as origens dos filhos e entre as relações conjugais como núcleo familiar, próprias da sociedade excessivamente patriarcal, machista e alicerçada no dogmatismo religioso. A mencionada revogação, deve-se a incompatibilidade radical entre essas normas e o princípio da igualdade que deve vigorar entre os entres os familiares.
Nos ensinamentos de Zeno Veloso:
A lei maior não tem preferidos, não elegeu prediletos, não admite distinção e razão de sexo, aboliu por completo a velha ditadura dos varões e acabou, definitivamente, com a disparidade entre filhos, determinando a absoluta igualdade entre eles, proibindo inclusive os designativos que funcionavam como autêntica maldição. (VELOZO, 1997, p.87)
Infelizmente, ainda persiste a visão preconceituosa que vigorou por décadas no seio da nossa sociedade. A lei não tem o poder de apagar a realidade social, pois mesmo que legalmente não haja discriminação entre os filhos, ainda há filhos que nascem de uma relação extraconjugal e são acolhidos de modo diferenciado pela sociedade e, dependendo do grupo social ao qual pertencem em muitos casos são marginalizados. Portanto, embora a lei rejeite a discriminação quanto à origem dos filhos, devem ser dados ao filho procriado fora do casamento instrumentos legais que o ajudem a alicerçar os mesmos direitos do filho originado de uma relação conjugal legalmente constituída.
O disposto no art. 227 da Constituição Federal:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em consideração o disposto no art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.
Este artigo como um todo sedimenta a proteção da criança pelo estado e institui a obrigação primaz da família de proteja-la em todos os aspectos da vida, inclusive no que tange ao seu direito à filiação, conforme disposto no parágrafo 6º. Este por sua vez, é norma de eficácia plena e autoaplicável, portanto, recepciona o direito de qualquer filho ser reconhecido voluntária ou judicialmente.
O sistema jurídico brasileiro não possui qualquer limitação relativa ao reconhecimento voluntário ou judicial, sendo facultado a qualquer filho a propositura de ação contra os pais, ou seus herdeiros, para demandar a filiação não ocorrendo nenhuma restrição como antes existia na lei. A filiação, com relação à Constituição de 1988, sofreu alterações profundas e necessárias que refletem a implementação do princípio constitucional da igualdade.
Deve-se salientar que o princípio da igualdade, assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, garante a todos iguais direitos e deveres perante a lei. Então constituir-se uma discriminação e um preconceito do legislador tachar os filho, havidos fora do casamento como sendo adulterinos ou ilegítimos.
Portanto, a Constituição Federal de 1988 foi um grande avanço ao se tratar de questões relativas ao direito de família, pois, de modo justo, igualou os filhos, impedindo que houvesse alguma discriminação relativa à filiação.
Dessa forma, o legislador agiu em consonância com o princípio da igualdade, retirando da nossa legislação qualquer resquício de discriminação ou preconceito restante de leis anteriores à Constituição Federal de 1988, e assim, com a revogação de alguns artigos do Código Civil de 1916 pela lei 10.106/02, acompanha as evoluções constantes da legislação constitucional.
Toda essa analise em torno da proteção legal à filiação possui um objetivo muito claro, demonstrar que conforme entendimento da Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Nancy Andrighi, oferecer amor ao filho pode ser entendido como sendo facultado ao pai, no entanto, o dever de cuidar, de assisti-lo material e afetivamente é um dever, corolário da liberdade de todas as pessoas de gerarem ou adotarem filhos, portanto, o abandono afetivo do filho deverá ser caracterizado como uma ação omissiva ilícita, pois fere frontalmente dispositivo constitucional que garante a toda criança proteção integral em todos os sentidos, a qual é dever irretratável do seu genitor.
CAPÍTULO 4 - A IMPORTÂNCIA DO AFETO PATERNAL-FILIAL E DOS DANOS DECORRENTES DE SUA AUSÊNCIA
Primeiramente para que se possa analisar a importância do afeto paterno na vida do filho é importante destacarmos algumas considerações do que pode ser traduzido como afeto, e a amplitude desse na vida das pessoas de uma forma geral.
O afeto é a manifestação de amor concretizadas por gestos que alimentam as necessidades de carinho das pessoas. Tais gestos podem ser demonstrados desde um abraço, de um estímulo tátil, os quais são capazes de propiciar proteção e segurança à pessoa. Portanto, é relevante se conscientizar que qualquer forma de estímulo leva o individuo sentir-se valorizado como pessoa.
O afeto é indispensável em qualquer fase da vida humana e a sua ausência pode levar o indivíduo a distúrbios mentais e em casos extremos até morte. Alguns estudos sobre o comportamento de crianças deixadas em instituições no seu primeiro ano de vida, revelaram que apesar dessas crianças receberem o alimento e remédios quando doentes, não tinham grande oportunidade de interagir com os adultos. Essas crianças depois de seis meses começavam a apresentar um quadro de retardo grande de linguagem. O aluno que foi sujeito da nossa pesquisa pronunciou as primeiras palavras aos dois anos de idade, mas falaremos desse caso concreto no capítulo 8. Nesse sentido é importante destacar que a fome das pessoas não se limita ao alimento e ao contrário do que possa parecer a felicidade dessas não podem ser supridas apenas com alimento, roupa e casa.
O ser humano também tem fome de estímulos que pode ser suprida pelas sensações físicas, olfato, tato, paladar, visão e audição. A pessoa também tem fome de contato com o próximo, pois precisam abraçar e sentir-se abraçadas, além da necessidade de ser reconhecidos, valorizados, pois não sobrevive à indiferença.
A figura do homem, como condição indispensável à concepção de um outro ser, pode em apenas alguns segundos lhe tornar genitor, no entanto tais segundos já não lhe serão mais suficiente, diante do nascimento de um novo ser, seu filho, para dar início a grande e nova aventura de ser pai.
4.1 Problemas emocionais manifestados após o abandono afetivo
Para Coll, Marchesi e Palacios (2004) os problemas emocionais costumam manifestar-se na escola em forma de ansiedade ou de angústia, acompanhadas de manifestações de tristeza, choro, retraimento social, dificuldades de estabelecer relações satisfatórias, desinteresse acadêmico, dificuldades de concentração, mudanças no rendimento escolar e relação inadequada com o professor e com os colegas.
O abandono afetivo por qualquer um dos progenitores pode desencadear na criança um processo depressivo o qual são observados os sintomas que mais se evidenciam na escola como: a falta de concentração, o desinteresse pelas atividades escolares e a diminuição no rendimento escolar. Tais sintomas escolares estão associados a outros, como o estado depressivo quase que diário, a perda de interesse por quase todas as atividades, mudança no peso ou apetite, problemas do sono, falta de energia, agitação ou lentidão motora, ideias de morte, etc. ,
Segundo Coll, Marchesi e Palacios , a ansiedade assume múltiplas formas, com sintomas escolares bem definidos tais como:
a) “A angústia pela separação, caracterização pela ansiedade excessiva diante de separações breves e pelo medo de perder as pessoas queridas ou de que aconteça algo a elas. Do ponto de vista escolar, caracteriza-se por firme resistência a ir à escola, sintomas físicos nos dias que vai à escola e, na escola, tendência ao isolamento, apatia, tristeza e falta de concentração.
b) A fobia escola, que se limita ao medo e a evasiva da escola ou de situações diretamente relacionadas com ela. Não se trata de uma ansiedade generalizada, mas circunscrita ao âmbito escolar.
c) A ansiedade diante de pessoas desconhecidas ou nas quais não se tem confiança, que pode interferir nas relações com os educadores e com os colegas na escola.
d) A ansiedade excessiva, generalizada a quase todos os aspectos da vida e que também afeta o funcionamento escolar. Manifesta-se em uma excessiva preocupação com a competência acadêmica, tendência a auto avaliar-se de forma muito exigente, susceptibilidade diante das correções, tensão, intranquilidade nervosa, preocupação com algo e rejeição escolar para evitar enfrentar situações difíceis”.( Coll, Marchesi e Palacios, 2004, p.113)
É vasta a literatura educacional que trata dos transtornos emocionais sofridos pelas crianças que são privadas da convivência paterna. São notórios os prejuízos para o desenvolvimento acadêmico, moral e social das crianças abandonadas afetivamente. O presente levantamento do referencial teórico serviu para delinear e cadenciar as futuras pesquisas para a comprovação do nexo de causalidade entre o ato omissivo ou comissivo do abandono afetivo e os danos causados no desenvolvimento cognitivo e disciplinar do menor no âmbito escolar e as consequências destes danos por toda a vida da pessoa abandonada.
4.2 Antecedentes Históricos sobre a Figura Paterna
O papel de pai pode não ser uma das tarefas mais fáceis, no entanto, muito mais relevante do que reconhecê-la, é se conscientizar que será com base no desempenho desse papel que surgirá ou não, ao novo ser, a oportunidade de uma vida digna, não só enquanto filho, mas também e principalmente enquanto ser humano.
Entretanto, o pai, no desempenho de sua figura paterna, coloca em concorrência outros interesses e ocupações, sendo por estes absorvidos de tal
forma que se afasta do filho, ignorando que este não tem apenas o direito, mas
também a necessidade de ter um pai.
Esse afastamento conduz a situações desastrosas, as quais só podem ser evitadas se os pais assumirem sua função, de forma a garantir que na formação da personalidade de seus filhos estejam compreendidas tarefas que permitam assegurar a estes, de forma plena, a educação intelectual, física, moral, cívica e, também, religiosa.
Portanto, a paternidade deve ser exercida de maneira a contribuir para a felicidade do filho. Esse reconhecimento implica numa relação pautada no afeto paterno-filial, que embora não encontre o fundamento em uma norma expressa, dispõe de argumentos decorrentes do próprio exercício do poder familiar. O conceito de paternidade em sua evolução histórica tem passado por diversas mudanças, registradas em virtude das modificações econômicas, sociais e culturais vivenciadas pela família ao longo do tempo.
Discorrendo em breve apanhado, nos séculos VXII e XVIII cabia à figura paterna a manutenção das necessidades materiais e a prestação da assistência educacional, moral e religiosa aos filhos. Nesse período os pais mantinham um contato frequente com a família, posto que desempenhavam seu trabalho em zonas rurais, próximo às suas residências. No entanto, a partir do século XIX, devido a ocorrência da industrialização e da urbanização, os pais passaram a trabalhar em indústrias, submetendo-se a uma carga horária excessiva, reduzindo dessa maneira o convívio com sua família, gerando consequentemente maior responsabilidade às mães nos cuidados com os filhos.
Pesquisas revelavam que nos anos de 1950 e 1960, o pai possuía uma participação muito restrita no desenvolvimento da criança. Por volta de 1960 e 1976, demonstravam que o papel do pai era de brincar com seus filhos, incluindo ainda a promoção do desenvolvimento social das meninas e a formação de identidade sexual dos meninos. A partir da revolução feminista ocorrida em 1970, um grande número de mulheres passaram a exercer atividades remuneradas, e por conseguinte começaram a contribuir no pagamento de despesas da família.
Essa ajuda econômica contribuiu para a transformação do papel atribuído aos pais. Dessa forma, até a década de 1970, o homem ocupava na estrutura familiar a posição de maior status no grupo familiar, situação que foi modificada com o crescente poder das mulheres que passaram a exigir para si as mesmas prerrogativas reservadas aos homens, deixando assim de assumir a totalidade da responsabilidade em relação aos filhos. Nesse contexto, homens e mulheres passaram a ser provedores de seus lares, surgindo por conseguinte a necessidade de ambos conciliarem os cuidados com os filhos e promoverem a reformulação de suas funções. Surge daí uma nova concepção da paternidade, que traz como característica uma valorização da presença do pai na vida do filho, incorporando valores distintos dos das gerações anteriores. De acordo com esse direcionamento, cumpre destacar a importância do afeto paternal na vida do filho.
4.3 Da Importância do Afeto Paternal na Vida do Filho
A função paterna sempre esteve vinculada a ideia de sustento, de autoridade sobre os demais componentes da família, situação que perdurou até o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres. Mas, apesar dessa igualdade é a figura que ainda traduz a sensação de segurança, proteção, e acolhimento.
Na identificação de tais elementos se tem presente a afetividade, consagrada indispensável para o desenvolvimento saudável dos filhos, desde o início de sua existência.
Ao assumir a paternidade o pai deve se responsabilizar pela vida do filho desempenhando seu papel de maneira a transmitir toda a segurança que o filho requer. Nesse ponto, Pereira e Silva, destaca:
É fácil pensar na imagem de um pai conduzindo seu filho à escola, segurando-o pela mão. O filho, confiante, irradia segurança ao ser conduzido seguramente pelo pai, certo de que nada de mau lhe poderá acontecer. Fundem-se nessa imagem e segurança, a direção e o acompanhamento do pai, para o filho que o observa no dia a dia, referência e exemplo.(PEREIRA e SILVA, 2006, p. 35)
Em síntese, importa destacar que o afeto paternal é o maior bem que um filho pode receber de seu pai, o qual se traduz em compreensão, carinho, respeito, capaz de propiciar ao filho o direito de conhecer, conviver, amar e ser amado, de ser cuidado, alimentado, e de aprender no colo do pai, lições de vida, sob as quais poderá alicerçar o seu futuro.
O afeto, assim praticado pelo pai é capaz de contribuir para o desenvolvimento do ser humano, o respeitando em sua dignidade. Várias podem ser as demonstrações do afeto paternal, que na maioria das vezes podem estar representadas por pequenos gestos, mas de significativa importância.
Em apropriada síntese, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka declara que a questão do afeto é compreendida em muitas vezes através de letras anônimas que tratam do tema, assinalando em sua transcrição o texto simploriamente denominado Nó de Afeto:
Em uma reunião de pais numa escola da periferia, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes, também, que se fizessem presentes o máximo de tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhasse fora, deveria achar um tempinho para se dedicar e entender as crianças. Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, com seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo durante a semana. Quando ele saía para trabalhar era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. Quando voltava do serviço era muito tarde e o garoto não estava mais acordado. Explicou, ainda, que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da família. Mas ele contou, também, que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho e que tentava se redimir indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. E, para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia, através dele, que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre eles. A diretora ficou emocionada com aquela singela história. E ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. O fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras das pessoas se fazerem presentes, de se comunicarem com os outros. Aquele pai encontrou a sua, que era simples, mas eficiente. E o mais importante é que o filho percebia através do nó afetivo, o que o pai estava lhe dizendo. Por vezes, nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas e esquecemos o principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples gestos como um beijo e um nó na ponta do lençol, valiam, para aquele filho, muito mais que presentes ou desculpas vazias. É válido que nos preocupemos com as pessoas, mas é importante que elas saibam que elas sintam isso. Para que haja a comunicação é preciso que as pessoas "ouçam" a linguagem do nosso coração, pois, em matéria de afeto, os sentimentos sempre falam mais alto que as palavras. É por essa razão que um beijo, revestido do mais puro afeto, cura a dor de cabeça, o arranhão no joelho, o medo do escuro. As pessoas podem não entender o significado de muitas palavras, mas sabem registrar um gesto de amor. Mesmo que esse gesto seja apenas um nó. Um nó cheio de afeto e carinho. (HIRONAKA, 2005, p.16)
Com efeito, cumpre ressaltar que o afeto paternal tem fundamental importância nas relações familiares, posto que conforme já dito, com a nova ordem constitucional o legislador consagrou a família como base da sociedade.
Portanto, a figura paterna ao desempenhar o seu papel tendo como alicerce o princípio da afetividade no seu relacionamento paterno – filial, estará contribuindo para que se tenha uma sociedade fortalecida.
Tal conclusão advém do fato de que o homem ao nascer tem seu primeiro contato com a família, na qual irá desenvolver a sua vida, a sua auto estima, ocasiões em que será imprescindível a demonstração pelos seus pais de quanto é amada e querida.
No iniciar da vida humana o filho descobrirá o seu valor a partir do valor que os outros lhe atribuírem. Se o pai negar afeto àquele que representa a sua própria continuação, tratando o como um ser insignificante, isso certamente o fará sentir-se desvalorizado e desmotivado para a vida.
Com efeito, a função de pai é algo que não termina com a geração da vida humana, ao contrário deve se iniciar a partir daí, com um projeto alicerçado nos laços do afeto. Sobre essa perspectiva, a professora Juliane Fernandes Queiroz, em sua brilhante obra, nos diz:
A relação paterno-filial não se explica apenas na descendência genética, mas sim, e preponderantemente, na relação sócioafetiva, a qual supre o indivíduo em suas necessidades elementares de alimentação, lazer, educação, sem desconsiderar o afeto e o amor. No mundo moderno, não se pode, portanto, prescindir de um outo pilar que sustenta a paternidade: o socioafetivo (QUEIROZ, 2001, p.49)
4.4 A importância do Pai no Desempenho Acadêmico do Filho
A participação do pai na vida escolar dos filhos já foi alvo de muitos estudos, objeto de pesquisa de inúmeros trabalhos científicos, todos na medida de suas descobertas, apenas sedimentaram o entendimento que há anos vigora no meio educacional. Trata-se da relação dos cuidados oferecidos pelo pai e o aproveitamento acadêmico da criança. Esses estudos, revelam que aquelas que contam com o acompanhamento do seu pai em relação ao seu desempenho acadêmico têm mais motivação para ir à escola, estudam com maior frequência e mostram melhor aproveitamento acadêmico, lembrando que o pai em questão é aquele que assume a postura de interesse nos estudos do filho, ajuda-o nas tarefas de casa e o apoia quando apresenta baixo desempenho acadêmico. A dedicação do pai também é responsável no desenvolvimento intelectual o filho e sua capacidade de adaptação em qualquer ambiente escolar, bem como, sua adaptação nas mas diversas situações do cotidiano discente. Os educadores, no trabalho diário com as crianças, conseguem perceber que as crianças que relatam bom relacionamento com seus pais apresentam pouquíssimos problemas relacionados à indisciplina e ao aprendizado, sobretudo, aquelas situadas na faixa etária de 8 e 9 anos, momento da vida onde a personalidade está sendo construída. O interessante que crianças nesta faixa etária ainda apresentam melhores habilidades motoras, para tarefas manuais e inclusive com reflexo na caligrafia, quando estas são mais bem assistidas pelos seus pais. Além disso, as que viviam com o pai biológico apresentaram maior desenvolvimento intelectual e funcionamento cognitivo do que as que viviam com outra figura masculina ou em famílias monoparentais, sendo que o baixo nível socioeconômico aumentou estes efeitos adversos. Nossa experiência profissional nos fazem concluir que a ausência paterna para crianças em idade escolar é um fator de risco para: desenvolvimento de problemas psicológicos, frequência de interações sociais e competência social e intelectual.
4.5 As Consequências da Ausência do Afeto Paterno-Filial
A estrutura patriarcal sofreu ao longo dos anos um rompimento significativo, a definição dos papéis dos membros de uma família, que claramente estabelecia e determinava os lugares dos entes familiares: pai, mãe e filhos, sofreram profundas mudanças, que culminaram em estarrecedoras consequências na formação das famílias atuais.
Dentre essas consequências se destaca a reestruturação do indivíduo masculino, pelo provável declínio em sua vinculação com a paternidade, configurando dessa maneira, uma crise na relação paterno – filial.
Analisando a figura paterna, salienta Rodrigo da Cunha Pereira:
Sua função básica, estruturadora e estruturante do filho como sujeito, está passando por um momento histórico de transição, onde os varões não assumem ou reconhecem para si o direito/dever de participar da formação, convivência afetiva e desenvolvimento de seus filhos. Por ex: o pai solteiro, ou separado, que só é pai em fins de semana, ou nem isso, mesmo casado, que não tem tempo para seus filhos; o pai que não paga ou boicota pensão alimentícia e nem se preocupa ou deseja ocupar-se com isto; o pai que não reconhece seu filho e não lhe dá o seu sobrenome na certidão de nascimento. (Pereira,1999, p.1):
O que nos parece ser evidenciado, ao longo de anos de trabalho junto às crianças, que a ausência do pai tem ocasionado graves consequências na estruturação psíquica dos filhos, com repercussão nas relações sociais, o que pode ser constatado com o aumento da delinquência infantil, agressividade da criança em relação aos colegas de classe e aos demais professores, etc. Nesse ponto, é importante transcrever a seguinte os esclarecimentos de Giselda Maria Fernandes Novaes Hinoraka :
A ausência injustificada do pai, como se observa, origina evidentemente dor psíquica e consequentemente prejuízo à formação da criança, decorrente da falta não só do afeto, mas do cuidado e da proteção – função psicopedagógica – que presença paterna representa na vida do filho, mormente quando entre eles já se estabeleceu um vínculo de afetividade. (Hinoraka, 2005, p. 5):
Observa-se que o abandono material não é o pior, pois encontra tutela no Direito que tipifica como crime o abandono material e intelectual, além de estabelecer prisão para os devedores de pensão alimentícia, conforme está disposto na legislação civilista e penal pátria. Portanto, a situação mais grave gira em torno do abandono psíquico e afetivo do pai, que com essa conduta imprópria lhe causa irreversíveis danos ao longo da construção da sua personalidade.
CAPÍTULO 5 - A PROTEÇÃO DO AFETO PATERNO-FILIAL COMO VALOR JURÍDICO
Como antes mencionado, a família é a primeira comunidade na qual o ser humano é inserido, quando do seu nascimento. Primeira escola, primeira catequese, primeira ambiente de trocas interpessoais. Ficando ao seu cargo, obrigação de promover o atendimento das mais diversas necessidades humanas e sociais. É a família que torna possível ao indivíduo a efetivação de valores, critérios de conduta, respeito e diálogo de forma afetiva, capaz de lhe proporcionar um desenvolvimento saudável, o que irá refletir em seus futuros relacionamentos com o mundo que o rodeia.
Embora, a família tenha passado por várias transformações ao longo dos tempos, mudando drasticamente sua estrutura, valores, responsabilidades e características, ainda é um instituto universal indispensável à formação do ser humano.
Observa-se ao longo dos trabalho, que o direito tem acompanhado, de forma lenta e gradual, as relevantes transformações ocorridas na estrutura familiar com a finalidade de prestar a devida tutela nessas relações.
Entretanto, observa-se a necessidade de definições mais claras e coerentes, quanto a responsabilidade nas relações paterno–filiais, bem como a ampliação das obrigações da paternidade, de forma expressa e positivada no ordenamento jurídico, além do estabelecimento da obrigação de uma compensação financeira, quando constatada a ausência injustificada da figura paterna na educação plena do filho.
Na atualidade, os deveres dos pais são independentes de sua escolha, determinados pelo Estado, que direciona essa relação, levando em consideração o resguardo do interesse dos filhos.
Isso pode ser observado com base em algumas decisões judiciais julgando procedente a pretensão da indenização por danos morais, em decorrência da ausência do afeto paterno–filial. Neste aspecto, é mister citar a decisão inédita proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual um pai foi condenado a pagar indenização de R$ 200 mil por abandono afetivo. Conforme foi amplamente veiculado na imprensa nacional, a filha propôs uma ação contra o pai após ter obtido reconhecimento judicial da paternidade e alegou ter sofrido abandono material e afetivo durante a infância e adolescência. A autora da ação argumentou que não recebeu os mesmos tratamentos que seus irmãos, filhos de outro casamento do pai.
No acórdão, o qual foi relatora a ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, proferido no dia 24 de abril de 2012. Todo o voto da magistrada se resumiu na seguinte frase: “Amar é faculdade, cuidar é dever”, disse a magistrada ao garantir a indenização por dano moral. Para a ministra Nancy Andrighi, “não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar, no direito de família”. Ainda segundo ela, a interpretação técnica e sistemática do Código Civil e da Constituição Federal apontam que o tema dos danos morais é tratado de forma ampla e irrestrita, regulando inclusive “os intrincados meandros das relações familiares”.
Essa decisão abrirá um importante precedente jurisprudencial, no entanto, vale lembrar que cada caso possui suas peculiaridades e cabe ao magistrado fazer seu juízo de valores, sempre à luz do nosso ordenamento. Infelizmente a mencionada decisão ainda não foi publicada para que fosse incluída, na integra, aos anexos deste trabalho.
Para uma melhor compreensão do papel a ser desempenhado pela figura paterna, se faz mister uma análise do instituto do poder familiar, haja vista que neste estão presentes, de forma geral, os deveres da figura paterna.
5.1 O Poder Familiar
A lei não traz nenhum conceito com referência ao instituto e apenas o regulamentou. Contudo, a doutrina moderna tem conceituado o referido instituto, como se observa nas palavras de Maria Helena Diniz :
O poder familiar pode ser definido como um conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor, não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho. (Diniz 2005, p. 518):
No dizer de Heloisa Prado Pereira, poder familiar é o:
“complexo de direitos e deveres quanto à pessoa e bens do filho, exercidos pelos pais na mais estreita colaboração, e em igualdade de condições segundo o artigo 226 § 5º, da Constituição”. (Pereira, 2003, p. 421)
Ainda na doutrina tem-se a definição de poder familiar, no entendimento de Nelsinha Elizena Damo Comel, como sendo:
Pátrio Poder é o complexo de direitos e deveres concernentes ao pai e a mãe, fundado no direito natural, confirmado pelo direito positivo e direcionado ao interesse da família e do filho menor não antecipado, que incide sobre a pessoa e patrimônio deste filho e serve como meio para o manter, proteger e educar. (Comel, 2003, p. 65)
Em observância a esses conceitos o poder familiar, disposto nos artigos 1.630 a 1.638 do Código Civil:
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos.
Art. 1.633. O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob poder familiar exclusivo da mãe; se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor.
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I - dirigir-lhes a criação e educação;
II - tê-los em sua companhia e guarda;
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável.
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão.
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.
Existe por parte da doutrina uma crítica no sentido de que o legislador infraconstitucional manteve como base do referido instituto a mesma estrutura patriarcal do Código Civil de 1916, na qual o pai figurava como chefe da família, apesar das sutis alterações feitas no corpo do texto dos artigos 379 a 395 do referido código.
A notada crítica encontra fundamento pelos partidários desse pensamento, baseado no fato de que o referenciado capítulo V , “Do Poder Familiar”, apesar de prever grande quantidade de deveres, obrigações, sanções, respeito e obediência, características típicas do autoritarismo patriarcal, não se ateve ao novo modelo familiar, o qual deve ser sustentado na solidariedade, na ternura e no amor. Tal posição do legislador civilista, vem na contramão do novo modelo de família o qual está alicerçada com base nos princípios constitucionais da dignidade humana, traduzidos em compreensão e amor mútuo entre seus membros, preservando assim o sentimento de união e verdadeira comunhão de vida na família e não um simples conjunto de direitos, regras, obrigações e deveres a serem cumpridos.
Contudo, os doutrinadores reconhecem a evolução gradativa do instituto, que embora não tenha trazido expressamente o conceito do poder familiar, e sim mantendo resquícios do “Pátrio Poder” do antigo diploma civilista, sua natureza é compreendida como sendo a transformação de um poder sobre os outros como uma autoridade natural em relação aos filhos, como pessoas dotadas de dignidade, no interesse deles e da convivência familiar.
Conclui-se que o poder familiar se traduz num encargo legalmente atribuído à alguém em conformidade as regras de uma sociedade que se organiza para resguardar o melhor interesse dos filhos. Bem diferente do que preconizava o “Pátrio Poder” , do homem como cabeça absoluta da família. Maria Berenice Dias nos ensina a este respeito:
A expressão “poder familiar” é nova. Corresponde ao antigo pátrio poder termo que remonta ao direito romano: pater potestas – direito absoluto e ilimitado conferido ao chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos. A conotação machista do vocábulo pátrio poder é flagrante, pois só menciona o poder do pai com relação aos filhos. Como se trata de um termo que guarda resquícios de uma sociedade patriarcal[...] Quanto maiores foram a desigualdades, a hierarquização e a supressão de direitos entre os membros da família, tanto maior foi o poder e o poder marital. A emancipação da mulher e o tratamento legal isonômico dos filhos é que restringiram o poder patriarcal. (DIAS, 2009, p.282)
Fica claro mais uma vez que as novas demandas e as transformações que a sociedade vem sofrendo ao longo das décadas, sobre tudo o novo papel da mulher na sociedade, bem como, a emancipação dos filhos, corroboraram para o fim da visão machista do pátrio poder.
Ainda na observação da conceituação do chamado “poder familiar“, este se caracteriza num poder dever, o qual deve ser efetivado por quem exerce a parentalidade no comando da família, e em contrapartida como um direito dos filhos, os quais figuram como destinatários desse comando.
Portanto, competem aos membros detentores do poder familiar exercê-lo, como leciona Maria Helena Diniz :
Compete aos membros capazes da família (na tradicional família, o pai e a mãe), o exercício do poder familiar, dirigindo e comandando a estrutura coletiva, com a possibilidade de garantir aos seus integrantes o acesso e a possibilidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento, para alcançar a ampla e irrestrita dignidade. (Diniz, 2005, p. 558):
Associando-se ao posicionamento doutrinário conclui-se que é imprescindível a interpretação do referenciado instituto, sob a nova ótica jurídico social. Portanto, essa nova ótica jurídica e social deve sempre versar em torno da ideia que a família é o instrumento, a “ferramenta” mais eficaz de formação completa do ser humano, no que diz respeito ao seu desenvolvimento moral, cognitivo, cultural, social e disciplinar.
Como já mencionado, o Código Civil deve ser lido à luz dos Princípios e regras estabelecidos na Constituição Federal, que dentre outros, trata com prioridade a proteção integral da criança e do adolescente, a igualdade jurídica entre os cônjuges e principalmente a igualdade jurídica de todos os filhos. Esta visão possui a capacidade de transformar a interpretação literal do Código Civilista de mero ditador de deveres e obrigações familiares em o instrumento vislumbra a igualdade de obrigações entre os cônjuges ou companheiros e os deveres compartilhados pelos filhos na busca de um objetivo comum que é a paz no seio familiar, alicerçada pelo afeto.
Agindo desta maneira, é possível admitir que os responsáveis pela família estarão contribuindo para o desenvolvimento da pessoa e, em última instância, colaborando para edificar a dignidade humana, na criança, ou no adolescente, que se encontra em desenvolvimento, permitindo-lhes que possam chegar na fase adulta, prontos a se relacionarem com a sociedade, enfrentando e superando desafios como consequência do papel desempenhado pelo poder familiar.
As vicissitudes por que passou a família repercutiram no conteúdo do poder familiar, como sendo menos poder e mais dever. Atualmente as funções do poder familiar estão contidas no artigo 229 da Constituição Federal, no artigo 1.634 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dispõe o artigo 229 da Carta Maior : “ Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Na mesma linha dispõe o art. 22 do ECA: “ Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. E também o art. 1.634 do Código Civil:
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I - dirigir-lhes a criação e educação;
II - tê-los em sua companhia e guarda;
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.
Não deixa dúvida os dispositivos ao mencionarem o dever dos pais de estarem presentes na vida do filho prestando-lhes a assistência de que necessitam, indiferente se os genitores coabitam no mesmo teto. É dever legal do pai, mesmo não coabitando com seus filhos, cuidar e participar ativamente de todos os processos de desenvolvimento da criança.
Levando-se em conta o que diz Nelsinha Elizena Damo Comel (2003, p. 95) com referência a esse dever/direito dos pais, “o dever de assistir será cumprido à medida que os pais assumirem todos os encargos com relação aos filhos, dando-lhes o suporte necessário ao pleno desenvolvimento da personalidade destes.”
Decorre desse posicionamento, que o relacionamento entre pais e filhos deverá ser construído com base na afetividade, pois apenas esta assegura a preservação do ser humano em seu aspecto psíquico e social.
Como já foi citado, o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo em relação à guarda também os deveres de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente. Os deveres de assistência material são relativamente fáceis de serem supridos. Basta um depósito mensal na conta da criança e tudo está resolvido, no entanto, o que se busca neste trabalho é dizer que o cuidado não se restringe à questões pecuniárias, as sim, às relações humanas, o toque, o olhar, as inúmeras sensações que apenas a presença pode determinar. Neste aspecto o artigo 22 do ECA também dispõe. Não há o que se falar de assistência moral e educação à distância. O processo de criação de um filho não pode ser confundo uma educação a distância, muito difundida nos meios tecnológicos da atualidade. Educar e desenvolver a moral e valores nas crianças, exige a constante presença, o ditar exemplos, é educar a cada momento e nunca perder a oportunidade de diz sim no momento certo e dizer não no momento necessário. Isto é educar. Isto é prestar assistência moral. Pode-se dizer que a presença constante dos pais, cria no seio familiar a chamada educação informal, aquela que não se restringe aos estabelecimento oficiais de ensino. Muitos acreditam que a educação informal é e sempre será mais eficaz na construção dos valores morais da criança.
Em sucinta transcrição, Nehemias Domingos de Melo trouxe a público a primeira decisão sobre abandono moral, a qual foi fundamentada no artigo 22 da Lei 8.069/90,nos elucida o autor:
A primeira decisão sobre a matéria vem do Rio Grande do Sul, e foi proferida na comarca de Capão de Canoas, pelo juiz Mário Romano Maggione, que condenou um pai, por abandono moral e afetivo de sua filha, hoje com nove anos, a pagar uma indenização por danos morais, correspondente a duzentos salários mínimos, em sentença datada de agosto de 2003, transitada em julgado e, atualmente, em fase de execução.
Ao fundamentar sua decisão o magistrado considerou que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos (art.22, da Lei nº 82069/90). A educação abrange não somente a escolaridade, mas também a convivência família, o afeto, o amor, carinho, ir ao parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições pra que a presença do pai ajude no desenvolvimento da criança.”
Concluindo que “a ausência, o descaso e a rejeição do pai em relação ao filho recém nascido, ou em desenvolvimento, violam a sua honra e a sua imagem. Basta atentar para os jovens drogados e ver-se-á que grande parte deles derivam de pais que não lhes dedicam amor e carinho; assim também em relação aos criminosos.” (Melo, 2005, p. 2)
.
Como já foi dito, na assunção de seus papéis deve o genitor interpretar o dever de criação de forma a abranger este encargo não apenas no plano material, limitando-se apenas a cuidar do sustento alimentar do filho, “alimentar o corpo sim, mas também cuidar da alma, da moral, da psique. Essas são prerrogativas do “poder familiar” e, principalmente, da delegação do amparo aos filhos”. Pereira e Silva (2006, p. 2)
O dever de educação da prole incumbe aos pais como meio de se garantir aos filhos um perfeito desenvolvimento moral e intelectual. Portanto os pais devem, assim, desempenhar a função de educadores e de lideres familiares para que a criança possa se formar enquanto pessoa humana.
Com efeito, a educação ao contrário do que geralmente se imagina não se restringe apenas à escolaridade. Nelsinha Elizen Damo Comel (2003, p. 103) trata a respeito da educação informal, que segundo ela é mais determinante ao desenvolvimento da personalidade do filho do que a educação formal. Referir-se que educação é aquela passada na convivência diária do pai com o filho, portanto, repleta de riqueza em seu conteúdo afetivo e emocional.
É através dessa educação informal “que o pai vai passar ao filho os valores que tem como importantes na vida, transmitindo-lhe um ideário filosófico e religioso”. E continua afirmando que essas são “noções e conceito que se integrarão de modo relativamente estável e duradouro na personalidade do filho”. Comel ( 2003, p.103).
Outrossim, a própria convivência familiar está alçada à categoria de direito fundamental da criança e do adolescente, conforme dispõe o art. 227 da CF, tão grande importância na formação do filho.
Do exposto resulta, portanto, o entendimento de que as funções atribuídas aos pais possuem mais fundamentos morais do que jurídicos. Trata-se de relações interpessoais, vinculadas por um sentimento de amor que deve unir pai e filho. Portanto, novamente, alicerçadas no afeto.
É baseado nessa comunhão de afeto que a obediência aos deveres paterno–filial, torna-se antes de tudo em dever moral imposto pela consciência e pelo sentimento íntimo, que antes mesmo de ser acolhido pelo legislador, já podia ser naturalmente vivenciado.
Nessa perspectiva é relevante destacar que o desempenho desses deveres não deve ficar ao livre arbítrio dos pais competindo ao Estado intervir sempre que necessário nas relações paterno-filiais, de forma a assegurar todos os direitos reconhecidos á criança e ao adolescente em obediência ao comando da nossa Constituição.
CAPÍTULO 6- Proteções Legais Relacionadas ao Afeto Paterno-Filial
6.1 Da Dignidade da Pessoa Humana
A dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais cuja normatização tem previsão no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. Afirma-se na doutrina que por se tratar de um princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana se constitui em base a toda interpretação do ordenamento jurídico. De primeiro, é preciso esclarecer que se tem como ideia de princípio a estrutura de um sistema de ideais, pensamentos ou normas, os quais estão sempre subordinados a uma ideia mestra, devendo por esta sempre serem conduzidos.
No âmbito da ciência jurídica, Nunes explica com clareza o significado do termo “princípio”.
[...] princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos horizontes do sistema jurídico e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam. Assim, o princípio tem a função de conduzir as normas jurídicas significando dizer que nenhuma interpretação será havida por jurídica se atritar com um princípio constitucional. Por conseguinte, os princípios são as regras mestras dentro do sistema positivo, cabendo ao interprete identificar as estruturas básicas, os fundamentos, os alicerces desse sistema. (Nunes, 2002, p.37)
Partindo desse entendimento, passa-se a análise do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como princípio maior para interpretação de todos os direitos e garantias conferidas às pessoas no texto constitucional.
6.1.1 O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana na prática
O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um verdadeiro supra princípio que norteia todos os demais princípios constitucionais e infraconstitucionais, motivo pelo qual não pode sob qualquer pretexto ser ignorado em nenhum ato de interpretação, aplicação ou criação das normas jurídicas.
Tal esforço mostra-se necessário a fim de que a dignidade não se torne um valor abstrato de difícil aplicação, posto que se trata de um princípio pleno e em
vigor, devendo ser levado em conta, em toda e qualquer situação.
Com efeito, constata-se que a dignidade da pessoa humana encontra previsão expressa no texto constitucional vigente, podendo ser encontrada nos artigos, 1º, inciso II e 227, caput, bem como em outros capítulos da lei fundamental, artigo 170 caput.
Esta previsão também encontra amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), que nos termos do artigo 15 assevera o direito à dignidade do menor, e faz especial menção à condição de pessoas humanas em processo de desenvolvimento.
Reza o artigo 227 da Constituição Federal:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Diante do exposto, pode se concluir que os deveres paternos associados ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana são alicerces indispensáveis à edificação da família, de maneira a torná-la efetivamente como “base da sociedade” em consonância ao definido no texto constitucional, “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.” (Art. 226 da Constituição Federal).
Entretanto, ressalte-se que promover a dignidade humana é antes de qualquer coisa acolher o filho no seio da família envolvendo-o com carinho, afeto, e amor, sentimentos indispensáveis à vida humana.
É nesse espírito de afeto tão necessário ao filho que se deve sustentar a relação paterno-filial. Privar a pessoa dessa necessidade, é reduzi-la à condição de objeto de direito, e privar-lhe de uma condição digna, violando assim o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
A propósito, e de certo modo, conforme o aqui sustentado, há que se considerar ainda como norma regulamentadora dos princípios fundamentais a previsão contida no § 2º do artigo 5º da Constituição Federal que assim estabelece: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”
Associando-se ao Princípio da Dignidade Humana e aos deveres que compõem as obrigações familiares, identificam-se outros artigos que fixam o direito do filho ao afeto.
Nesse enfoque a própria Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 20 de setembro de 1990, inserida no ordenamento brasileiro por conta do art. 5º, § 2º da Constituição Federal, dispõe em seu preâmbulo o seguinte enunciado: “reconhecendo que a criança para o seu desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade, deve crescer em um ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão.” Outra forma de proteção pode ser verificada com a leitura do artigo 71 da referida convenção: “a criança será registrada imediatamente após o seu nascimento e terá, desde o seu nascimento, direito a um nome, a uma nacionalidade e, na media do possível, direito de conhecer seus pais e ser cuidada por eles.” O princípio 6º da Declaração Universal dos Direitos da Criança afirma que para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança necessita de amor e compreensão, e sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade se seus pais, mas, em, qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material. Salienta-se também que, apenas em circunstâncias excepcionais, a criança de terna idade será separada de sua mãe. Seguindo essa mesma linha, o ECA garantiu a toda criança e a todo adolescente o direito a convivência familiar, ou seja, ser criado e educado no seio da família.
No que tange ao direito da criança, verifica-se que para o seu desenvolvimento não basta apenas suprir as suas necessidades materiais e sim cercá-la também de amparo afetivo, de cuidados paternos que lhe proporcione o seu
perfeito desenvolvimento mental, espiritual, social e moral.
Outra norma protetora do direito ao afeto é a Doutrina da Proteção Integral da Criança e do Adolescente que está consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 1º, complementado pelos artigos 3º, 4º e 5º do ECA e na Convenção dos Direitos da Criança.
Segundo o disposto em seu artigo 3º, ao proclamar a abrangência dos diretos fundamentais da pessoa humana à criança e ao adolescente, em conformidade ao já disposto na Constituição Federal reafirma os direitos e cuida de que tenham, no caso da criança e do adolescente, uma aplicação amoldada à condição da pessoa em desenvolvimento.
É incontestável que a grande meta do legislador foi propiciar ao menor ser entendido como pessoa humana composto de desenvolvimento mental, espiritual e social. Demais disso, “uma sociedade será justa no momento em que oportunizar a todas as suas crianças e aos seus adolescentes essas condições de desenvolvimento íntegro, nas diferentes dimensões fundamentais do ser humano.” (ECA, 2002, p.21).
Por último, cabe transcrever a disposição normativa prevista no artigo 98 do ECA, por implicar também na responsabilidade paterna, quando do descumprimento dos deveres relativos à filiação: Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados.
Constituição Federal de 1988 assevera que a base da família deve centrar-se na dignidade da pessoa humana, na solidariedade social, assumindo destaque a relação paterno-filial, que dentro da doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente, proibiu qualquer discriminação entre os filhos.
A legislação, tal como a sociedade é conhecedora de que o papel do pai não deve se limitar ao de reprodutor de filho, mas sim ao compromisso de uma paternidade responsável, permitindo ao filho o direito de conhecer, amar e ser
amado, de ser instruído, de aprender valores morais, sociais, e tantas outras tarefas que só um pai pode executar .
6.2 A questão delicada do abandono afetivo
Esta delicada questão merece o devido cuidado na análise de seus fundamentos, pois se ela não foi trazida à baila no passado, hoje não se pode mais conter dentro da restrita esfera das relações mal resolvidas ou sem solução, expandindo-se em casos pontuais e bem definidos até as salas do Poder Judiciário renovado, corajoso e inovador, que não demonstra temor nem tem se recusado à análise cuidadosa do que se demanda nos dias de hoje.
A delicada questão a qual este estudo faz alusão, se resume na seguinte pergunta: pode um pai ser responsabilizado civilmente e por isso, condenado a indenização pelo abandono afetivo perpetrado contra o filho? A procura pelo fundamento da resposta a essa pergunta, levaria à seguinte indagação: a denominada responsabilidade paterno – filial resume-se ao dever de sustento, ao provimento material do necessário ou do imprescindível para manter a prole, ou vai além dessa singela fronteira, por situar-se no campo do dever de convívio, a significar uma participação mais integral na vida e na criação dos filhos, de forma a contribuir em sua formação e subsistência emocionais?
Muitos tribunais produziram jurisprudências e deram respaldo à convicção que assunção da responsabilidade pela mantença material dos filhos seria o suficiente a ser feito em prol de alguém a quem não se deseja por perto. Certamente, essa meia responsabilidade não foi jamais suficiente, mesmo porque muito se falou até agora, das responsabilidades constitucionais dos pais em se fazer presente no processo de enriquecimento moral, social, cultural, cognitivo e afetivo dos filhos. Mas o paradigma de antigamente ainda repercute de maneira muito forte, porque a importância da vontade e do querer adulto sempre foi significativamente mais importante que a necessidade e a carência infantil.
Em pesquisa à jurisprudência pertinente, encontramos o seguinte caso: uma menina judaica abandonada afetivamente por seu pai logo após o nascimento, quando ele se separou de sua mãe e, em seguida, casou-se com outra mulher, com quem teve outros três filhos. Por serem todos membros da comunidade judaica, o pai e sua nova família encontravam-se frequentemente com a menina abandonada, e nessas ocasiões, o pai fingia não conhecê-la, de modo a desprezá-la reiteradamente. O interesse do pai em formar nova família, completamente desvinculada da família anterior, independente de quais tenham sido as razões que o levaram a assim agir, foi mais importante e imperativo que o interesse da menina. Essa situação provocou, desde logo, os sentimentos de rejeição e de humilhação, os quais se transformaram em causas de danos importantes, como significativo complexo de inferioridade, demandando cuidados médicos e psicológicos por longo tempo. Só bem mais tarde, já quando jovem encontrou guarida na resposta jurisdicional para os anseios, as frustrações e os traumas que a acompanharam por toda a vida. (SÃO PAULO, 31ª Vara Civil Central. Processo : 01.36747-0, Juiz Luiz Fernando Cirilo, 2004).
Foi assim também o caso do menino, igualmente abandonado por seu pai, que, por razões semelhantes, deixou-o desprovido de sua presença, de seu carinho, de seu interesse por sua criação e por seu desenvolvimento, o que lhe causou significativo déficit psicológico e emocional. Pela produção de tal dano moral a seu jovem filho, o pai foi condenado pelo Poder Judiciário, em segunda instância, a reparar a falha praticada, a omissão perpetrada e a responsabilidade por tantos anos ignorada. (MINAS GERAIS, TJ. Ap. 408.550-5, Rel. Desembargador Unias Silva, 2004).
A ausência injustificada do pai, como se observa, origina evidente dor psíquica e consequente prejuízo à formação da criança, decorrente da falta não só do afeto, mas do cuidado e da proteção, função psicopedagógica, que a presença paterna representa na vida do filho, mormente quando entre eles já se estabeleceu um vínculo de afetividade. Além da inquestionável concretização do dano, também se configura, na conduta omissiva do pai, a infração aos deveres jurídicos de assistência imaterial e proteção que lhe são impostos como decorrência do poder familiar.
Por um lado, nesta vertente da relação paterno-filial, em conjugação com a responsabilidade, há o viés naturalmente jurídico, mas essencialmente justo, de buscar-se indenização compensatória em face de danos que os pais possam causar a seus filhos por força de uma conduta imprópria, especialmente quando a eles são negados a convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a referência paterna ou materna concretas, o que acarretaria a violação de direitos próprios da personalidade humana, de forma a magoar seus mais sublimes valores e garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social; isso, por si só, é profundamente grave. Por outro lado, é invencível e imprescindível esta menção, outros casos considerados como assemelhados não foram recepcionados pelo Poder Judiciário, e de modo acertado, segundo o meu sentir, exatamente porque as decisões não reconheceram, nos casos concretos, a existência de danos morais indenizáveis decorrentes do fato de um eventual abandono afetivo, ou porque não houve dano, ou porque não houve abandono, ou porque não estava estabelecida a relação paterno-filial da qual decorre a responsabilidade em apreço, ou, finalmente, porque não se estabeleceu o imprescindível nexo de causalidade, causa eficiente da responsabilização civil in casu.
Algumas decisões se tornaram um marco judicial inovador como o caso do menor Alexandre Batista Fortes, de Minas Gerais, correspondente à Apelação Cível n. 408.550-5, da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse acórdão encontra precedente na Comarca de Capão da Canoa, em sentença proferida em 16 de setembro de 2003, referente ao Processo n. 141/1030012032- 0, da 2ª Vara, cujo prolator foi o Juiz de Direito Mário Romano Maggioni. Nesse caso, como o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, verificou que tendo sido o réu revel, não houve recurso, ficando restrita a repercussão, que só agora se deu, ironicamente em razão do decisório posterior.
EMENTA – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNO-FILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº408.550-5 da Comarca de BELO HORIZONTE, sendo Apelante (s): ALEXANDRE BATISTA FORTES MENORPÚBERE ASSIST. P/ SUA MÃE e Apelado (a) (os) (as):VICENTE DE PAULO FERRO DE OLIVEIRA,ACORDA, em Turma, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO. Presidiu o julgamento o Juiz JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES e dele participaram os Juízes UNIAS SILVA (Relator), D. VIÇOSO RODRIGUES (Revisor) e JOSÉ FLÁVIO ALMEIDA (Vogal). O voto proferido pelo Juiz Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos demais componentes da Turma Julgadora. Assistiu ao julgamento pelo apelante, a Drª. Thais Câmara Maia e Produziu sustentação oral pelo apelado, o Dr. João Bosco Kumaira. Belo Horizonte, 01 de abril de 2004.
JUIZ UNIAS SILVA Relator
V O T O
O SR. JUIZ UNIAS SILVA: Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre Batista Fortes – menor púbere representado por sua mãe – contra a r. sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra seu pai, Vicente de Paulo Ferro de Oliveira, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que inexistente o nexo causal entre o afastamento paterno e o desenvolvimento de sintomas psicopatológicos pelo autor. Sustenta o apelante, em síntese, que o conjunto probatório presente nos autos é uníssimo ao afirmar a existência do dano resultante da ofensa causada pelo apelado. Afirma que a dor sofrida pelo abandono é profundamente maior que a irresignação quanto ao pedido revisional de alimentos requerido pelo pai. Aduz que o tratamento psicológico ao qual se submete há mais de dez anos advém da desestruturação causada pelo abandono paterno. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. Contra-razões às fls. 105-407. É o relatório necessário. Conheço do recurso, pois que presentes os pressupostos de sua admissão. A relação paterno-filial em conjugação com a responsabilidade possui fundamento naturalmente jurídico, mas essencialmente justo, de se buscar compensação indenizatória em face de danos que pais possam causar a seus filhos, por força de uma conduta imprópria, especialmente quando a eles é negada a convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a referência paterna ou materna concretas, acarretando a violação de direitos próprios da personalidade humana, magoando seus mais sublimes valores e garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social, o que, por si só, é profundamente grave. Esclareço, desde já, que a responsabilidade em comento deve cingir-se à civil e, sob este aspecto, deve decorrer dos laços 7familiares que matizam a relação paterno-filial, levando-se em consideração os conceitos da urgência da reparação do dano, da re-harmonização patrimonial da vítima, do interesse jurídico desta, sempre prevalente, mesmo à face de circunstâncias danosas oriundas de atos dos juridicamente inimputáveis. No seio da família da contemporaneidade desenvolveu-se uma relação que se encontra deslocada para a afetividade. Nas concepções mais recentes de família, os pais de família têm certos deveres que independem do seu arbítrio, porque agora quem os determina é o Estado. Assim, a família não deve mais ser entendida como uma relação de poder, ou de dominação, mas como uma relação afetiva, o que significa dar a devida atenção às necessidades manifestas pelos filhos em termos, justamente, de afeto e proteção. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não somente do sangue. No estágio em que se encontram as relações familiares e o desenvolvimento científico, tende-se a encontrar a harmonização entre o direito de personalidade ao conhecimento da origem genética, até como necessidade de concretização do direito à saúde e prevenção de doenças, e o direito à relação de parentesco, fundado no princípio jurídico da afetividade. O princípio da efetividade especializa, no campo das relações familiares, o macro-princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal), que preside todas as relações jurídicas e submete o ordenamento jurídico nacional. No estágio atual, o equilíbrio do privado e do público pauta-se exatamente na garantia do pleno desenvolvimento da dignidade das pessoas humanas que integram a comunidade familiar. No que respeita à dignidade da pessoa da criança, o artigo 227 da Constituição expressa essa concepção, ao estabelecer que é dever da família assegurar-lhe "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", além de colocá-la "à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". Não é um direito oponível apenas ao Estado, à sociedade ou a estranhos, mas a cada membro da própria família. Assim, depreende-se que a responsabilidade não se pauta tão somente no dever alimentar, mas se insere no dever de possibilitar o desenvolvimento humano dos filhos, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em comento, vê-se claramente, da cuidadosa análise dos autos, que o apelante foi, de fato, privado do convívio familiar com seu pai, ora apelado. Até os seis anos de idade, Alexandre Batista Fortes, ora apelante, manteve contato com seu pai de maneira razoavelmente regular. Após o nascimento de sua irmã, a qual ainda não conhece, fruto de novo relacionamento conjugal de seu pai, este afastou-se definitivamente. Em torno de quinze anos de afastamento, todas as tentativas de aproximação efetivadas pelo apelante restaram-se infrutíferas, não podendo desfrutar da companhia e dedicação de seu pai, já que este não compareceu até mesmo em datas importantes, como aniversários e formatura. De acordo com o estudo psicológico realizado nos autos, constata-se que o afastamento entre pai e filho transformou-se em uma questão psíquica de difícil elaboração para Alexandre, interferindo nos fatores psicológicos que compõem sua própria identidade. “É como se ele tentasse transformar o genitor em pai e, nesta árida batalha, procurasse persistentemente compreender porque o Sr. Vicente não se posiciona como um pai, mantendo a expectativa de que ele venha a fazê-lo.” (fls. 72). “Neste contexto, ainda que pese o sentimento de desamparo do autor em relação ao lado paterno, e o sofrimento decorrente, resta a Alexandre, para além da indenização material pleiteada, a esperança de que o genitor se sensibilize e venha a atender suas carências e necessidades afetivas.” (fls.74). Assim, ao meu entendimento, encontra-se configurado nos autos o dano sofrido pelo autor, em relação à sua dignidade, a conduta ilícita praticada pelo réu, ao deixar de cumprir seu dever familiar de convívio e educação, a fim de, através da afetividade, formar laço paternal com seu filho, e o nexo causal entre ambos. Desta forma, fixo a indenização por danos morais no valor equivalente a duzentos salários mínimos, ou seja, R$ 44.000,00, devendo ser atualizado monetariamente de acordo com a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça e com juros de mora em 1% ao mês, a contar da publicação do presente acórdão. Pelo que,condeno o apelado a pagar ao procurador do apelante, a título de honorários sucumbenciais, o valor relativo a 10% do valor da condenação em danos morais. Com base em tais considerações, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, modificando a r. decisão ora objurgada. Custas pelo apelado. Posteriormente, outra decisão ganhou destaque na mídia jurídica, dessa vez prolatada por magistrado paulista, o juiz de direito Luis Fernando Cirillo, no Processo n. 01.36747-0, da 31ª Vara Cível Central de São Paulo, decisão publicada em 26 de junho de 2004. Eis alguns dos principais tópicos da r. sentença, nos quais o magistrado desdobra as razões de sua convicção, ao proferi-la: A paternidade provoca o surgimento de deveres. Examinando se o Código Civil vigente à época dos fatos, verifica-se que a lei atribuía aos pais o dever de direção da criação e educação dos filhos, e de tê-los não somente sob sua guarda, mas também sob sua companhia (art.384, I e II). Há, portanto, fundamento estritamente normativo para que se conclua que a paternidade não gera apenas deveres de assistência material, e que além da guarda, portanto independentemente dela, existe um dever, a cargo do pai, de ter o filho em sua companhia. Além disso, o abandono era previsto como causa de perda do pátrio poder (art.395, II), sendo cediço que não se pode restringir a figura do abandono apenas à dimensão material. Regras no mesmo sentido estão presentes também no Código Civil vigente (arts. 1.634, I e II e 1.638, II). É certo que o Código Civil em vigor explicita ser lícito o exercício exclusivo do agora denominado poder familiar por um dos pais, se não existir casamento (art. 1.631), a ponto de prever expressamente a perda do direito dos pais de ter filhos em sua companhia na hipótese de separação judicial (art. 1.632). Mas anti perda do direito à companhia não é absoluta, uma vez que o art. 1.589 da mesma lei prevê direito de visita, companhia e de fiscalização da manutenção e educação do filho em favor do pai ou d mãe que não detém a guarda. Vê-se, portanto, que não há fundamento jurídico para se concluir, primeiro, que não haja dever do pai de estabelecer um mínimo de relacionamento afetivo com seu filho, e em segundo lugar que o simples fato da separação entre pai e mãe seja fundamento para que se dispense quem não fica com a guarda do filho de manter esse relacionamento. A par da ofensa à integridade física (e psíquica) decorrente de um crescimento desprovido do afeto paterno, o abandono afetivo se apresenta também como ofensa à dignidade da pessoa humana, bem jurídico que a indenização do dano moral se destina a tutelar. É evidente que a separação dos pais não permitirá a quem não detém a guarda o estabelecimento de convivência freqüente, ou mesmo intensa. Por este motivo é que efetivamente não se mostra razoável, em princípio e em linhas gerais, considerar que to do pai ou mãe que se separa e deixa o filho com o outro genitor deva pagar ao filho indenização de dano moral. Mas nem por isso poderá ir ao outro extremo e negar a ocorrência de dano moral se o pai ou a mãe, tendo condições materiais e intelectuais, se abstém completamente de estabelecer relacionamento afetivo ou de convivência, ainda que mínimo, com seu filho, como se não houvesse um vínculo de parentesco, que no âmbito jurídico se expressa também como companhia, transcendendo assim a dimensão estritamente material. A Perita judicial concluiu que a autora apresenta conflitos, dentre os quais o de identidade, deflagrados pela rejeição do pai (situação de abandono), uma vez que o réu não demonstra afeto pela autora nem interesse pelo seu estado emocional, focando sua relação com a requerente apenas na dimensão financeira, a ponto de considerar normal ter se esquecido da filha. A autora não teve possibilidade de conviver com uma figura paterna que se relacionasse com ela de forma completa, defrontada com a situação de ser formalmente filha do réu ao mesmo tempo em que tentava vivenciar uma relação pai/filha com o segundo marido de sua mãe. Seu referencial familiar se caracterizou por comportamentos incoerentes e ambíguos, disso resultando angústia, tristeza e carência afetiva, que atrapalharam seu desenvolvimento profissional e relacionamento social.
Posteriormente, outra decisão ganhou destaque na mídia jurídica, dessa vez prolatada por magistrado paulista, o Juiz de Direito Luis Fernando Cirillo, no Processo n. 01.36747-0, da 31ª Vara Cível Central de São Paulo, decisão publicada em 26 de junho de 2004. Eis alguns dos principais tópicos da sentença, nos quais o magistrado desdobra as razões de sua convicção, ao proferi-la:
A paternidade provoca o surgimento de deveres. Examinando se o Código Civil vigente à época dos fatos, verifica-se que a lei atribuía aos pais o dever de direção da criação e educação dos filhos, e de tê-los não somente sob sua guarda, mas também sob sua companhia (art.384, I e II). Há, portanto, fundamento estritamente normativo para que se conclua que a paternidade não gera apenas deveres de assistência material, e que além da guarda, portanto independentemente dela, existe um dever, a cargo do pai, de ter o filho em sua companhia. Além disso, o abandono era previsto como causa de perda do pátrio poder (art. 395, II), sendo cediço que não se pode restringir a figura do abandono apenas à dimensão material. Regras no mesmo sentido estão presentes também no Código Civil vigente (arts. 1.634, I e II e 1.638, II).
É certo que o Código Civil em vigor explicita ser lícito o
exercício exclusivo do agora denominado poder familiar por um dos pais, se não existir casamento (art. 1.631), a ponto de prever expressamente a perda do direito dos pais de ter filhos em sua companhia na hipótese de separação judicial (art. 1.632). Mas a perda do direito à companhia não é absoluta, uma vez que o art. 1.589 da mesma lei prevê direito de visita, companhia e de fiscalização da manutenção e educação do filho em favor do pai ou d mãe que não detém a guarda. Vê-se, portanto, que não há fundamento jurídico para se concluir, primeiro, que não haja dever do pai de estabelecer um mínimo de relacionamento afetivo com seu filho, e em segundo lugar que o simples fato da separação entre pai e mãe seja fundamento para que se dispense quem não fica com a guarda do filho de manter esse relacionamento. A par da ofensa à integridade física (e psíquica) decorrente de um crescimento desprovido do afeto paterno, o abandono afetivo se apresenta também como ofensa à dignidade da pessoa 10humana, bem jurídico que a indenização do dano moral se destina a tutelar.
É evidente que a separação dos pais não permitirá a quem não detém a guarda o estabelecimento de convivência freqüente, ou mesmo intensa. Por este motivo é que efetivamente não se mostra razoável, em princípio e em linhas gerais, considerar que todo pai ou mãe que se separa e deixa o filho com o outro genitor deva pagar ao filho indenização de dano moral. Mas nem por isso poderá ir ao outro extremo e negar a ocorrência de dano moral se o pai ou a mãe, tendo condições materiais e intelectuais, se abstém completamente de estabelecer relacionamento afetivo ou de convivência, ainda que mínimo, com seu filho, como se não houvesse um vínculo de parentesco, que no âmbito jurídico se expressa também como companhia, transcendendo assim a dimensão estritamente material. A Perita judicial concluiu que a autora apresenta conflitos, dentre os quais o de identidade, deflagrados pela rejeição do pai (situação de abandono), uma vez que o réu não demonstra afeto pela autora nem interesse pelo seu estado emocional, focando sua relação com a requerente apenas na dimensão financeira, a ponto de considerar normal ter se esquecido da filha. A autora não teve possibilidade de conviver com uma figura paterna que se relacionasse com ela de forma completa, defrontada com a situação de ser formalmente filha do réu ao mesmo tempo em que tentava vivenciar uma relação pai/filha com o segundo marido de sua mãe. Seu referencial familiar se caracterizou por comportamentos incoerentes e ambíguos, disso resultando angústia, tristeza e carência afetiva, que atrapalharam seu desenvolvimento profissional e relacionamento social.
CAPÍTULO 7 - A AUSÊNCIA DO AFETO PATERNO-FILIAL COMO FATO GERADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Para configurar a obrigação de indenizar subjetivamente, devem estar presentes, conforme Sílvio Rodrigues, os seguintes elementos: ação ou omissão voluntária culpa/dolo, relação de causalidade (nexo causal) e dano. Rodrigues (2003,p.67)
Compartilhando do mesmo entendimento, Caio Mário, ensinou que para a configuração da obrigação de indenizar no campo da responsabilidade subjetiva, exige-se a presença de três elementos: em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico.
Essas condições estão presentes principalmente no artigo 186 do Código Civil: “ Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, o qual trata da responsabilidade extracontratual subjetiva, aplicável nos casos de abandono moral, muito utilizada como fundamento nas ações que pleiteiam esse tipo de ressarcimento pelo abandono afetivo.
É inegável que a ausência do afeto paterno filial pode causar um dano de ordem moral na vida do filho (já exaustivamente argumentado neste trabalho), dano esse que macula o ser humano enquanto pessoa dotada de personalidade, potencializando os conflitos no desenvolvimento psicológico da criança, sendo certo que essa personalidade existe e se manifesta por meio do grupo familiar.
Apesar parte dos doutrinadores reconheçam a inquestionável concretização do dano, face à ausência do afeto paternal, ainda lhe causa interrogação o pressuposto do nexo de causalidade entre a conduta do pai e o consequente dano ao filho.
Para esses doutrinadores não estaria presente o nexo de causalidade, justamente pelo fato de que o afeto não está disposto expressamente no ordenamento jurídico, como um dever do pai, razão pela qual não assistiria a este o dever legal de cumpri-lo, sob alegação de falta de um dos pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, do nexo de causalidade. Compartilha desta mesma posição a jurisprudência fluminense, por exemplo, conforme o julgamento da Apelação 2004.001.13664, 4ª câmara tendo como relator o Desembargador Mario dos Santos Paulo. O professor Carlos Roberto Gonçalves sita em sua obra um fragmento deste julgado:
“Não há amparo legal, por mais criativo eu possa ser o julgador, que assegure ao filho indenização por falta de afeto e carinho. Muitos menos já passados mais de quarenta anos de ausência de descaso. Por óbvio, ninguém está obrigado a conceder amor ou afeto a outrem, mesmo eu seja filho. Da mesma forma, ninguém está obrigado a odiar seu semelhante. Não há norma jurídica cogente que ampare entendimento diverso, situando-se a questão no campo exclusivo da moral, sendo certo, outrossim, que, sobre o tema, o direito positivo impõe ao pai o dever de assistência material, na forma de pensionamento e outras necessidades palpáveis, observadas na lei” (GONÇALVES, 2006, P.649)
Segundo parte dos doutrinadores, impor aos pais o dever de afeto infringiria o Princípio da Legalidade estabelecida no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal que dispôs que ninguém estará obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.
Partindo dessa concepção, a conduta do pai, como um dos pressupostos da responsabilidade civil estaria ausente e, consequentemente inexistiria o dever de indenizar.
Muito frágil tal tese, uma fez que, existe uma ampla proteção à criança no que diz respeito ao pleno desenvolvimento social, moral e cognitivo os quais são obrigações constitucionais e infraconstitucionais, fundamentadas dispositivos legais: artigo 229 da Carta Maior : “ Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Na mesma linha dispõe o art. 22 do ECA: “ Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. E também o art. 1.634 do Código Civil:
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I - dirigir-lhes a criação e educação;
II - tê-los em sua companhia e guarda;
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.
Embora exista esse posicionamento, o que se propõe como suporte de sustentação jurídica à referida questão, é um exame dos princípios constitucionais contidos na Constituição Federal de 1988, sobre tudo o princípio da dignidade humana.
Cabe de primeiro mencionar que o Estado, avocando para si a tutela dos bens de valor jurídico, cuidou de regular a vida em sociedade por meio de regras, cujo cumprimento a todos estaria obrigado, como pressuposto necessário para a convivência em sociedade. Neste aspecto o legislador brasileiro tratou de editar as já supracitadas normas.
A obrigação dessas regras deve ter como base os princípios fundamentais que regem um Estado Democrático de Direito, em obediência ao preceito contido no artigo 1º da Constituição Federal a que dispõe “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito [...]”.
Ressalta-se, ainda, que o artigo supracitado estabelece como um dos princípios fundamentais o da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no seu inciso III.
Analisando o dispositivo e o referido inciso, depreende-se que toda e qualquer regra deve obediência a esse princípio, que tem por finalidade garantir a devida proteção à pessoa humana, centro de referência da ordem jurídica, e, por conseguinte, valorar atributos que lhes são inerentes e refletem em sua vida espiritual e moral.
Tais atributos referem-se à integridade física, moral, intelectual, do ser humano, sua liberdade, bem como tudo aquilo que lhe é necessário para se auto realizar como pessoa.
Portanto, é em prol da dignidade da pessoa humana, base de sustentação dos direitos humanos, que se pode conferir a afetividade como um novo valor jurídico e, por conseguinte, o afeto paterno como bem jurídico a ser tutelado, posto que tem se reconhecido que a ausência deste pode acarretar danos que lesionam a sua integridade psíquica das pessoas causando–lhes constante sofrimento .
Devemos, nesse ponto, transcrever a repercussão da ausência do afeto dos pais na manifestação do psicanalista Sérgio Nick:
Os filhos abandonados total ou parcialmente pelo pai tem dificuldade de lidar com sentimentos gerados por este abandono, o que vai trazer consequências imprevisíveis. Estas crianças apresentam um núcleo depressivo que pode leva-las a sentimentos de baixa auto- estima, de não serem merecedoras de amor. Além de gerar sentimentos de ódio e de inveja. (Nick ,2005, p1):
Nessa perspectiva, a Constituição Federal, ao conferir determinada proteção ao individuo, o coloca em condições de sujeito de direitos, assegurando-lhe inclusive, a apreciação do Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a esses direitos, conforme previsão expressa no artigo 5º, inciso XXXV, “ a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, mencionado na referida Constituição. Daí, porque, os direitos da personalidade, enquanto atributos jurídicos estão devidamente protegidos.
Destarte, embora o afeto paterno–filial não esteja expressamente estabelecido dentre as obrigações da figura paterna, conclui-se conforme o exposto, que implicitamente é possível reconhecer sua obrigação em correlação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tornando, portanto um dever a ser cumprido em obediência a um preceito constitucional.
Neste diapasão o fundamento da responsabilidade civil com base na conduta, se assenta na omissão do pai que priva o filho de afeto, acarretando-lhe danos de difícil reparação, violando, em consequência, o princípio da dignidade da pessoa humana. Também nesta mesma linha de raciocínio a conduta omissiva fere frontalmente as obrigações inerentes a ambos os genitores, claramente dispostas no art. 229 da nossa constituição, no art. 22 do ECA e art. 1634 do Código Civil, pelos quais o pai possui o dever de cuidado, não podendo portanto, a luz da do sucesso nesta empreitada, abrir mão do convívio afetivo com seu filho.
O retrato dessa violação pode ainda estar presente na vida de milhões de crianças espalhadas pelo Brasil que se tivessem recebido o afeto de seus pais, certamente não estariam na prostituição, nas drogas, ora sendo vítimas da violência, ora sendo sujeito ativos dessa, bem como vítimas do fracasso escolar. A este respeito deve-se falar com grande propriedade, haja vista, os anos de experiência na área de educação, os quais nos serviram para presenciarmos incontáveis casos de abandono afetivo por parte do genitor e todos os danos decorrentes desta ação. Estudaremos no capítulo 8 um destes casos presenciados ao longo dos anos de carreira. Com base nessas consequências nefastas e prejudiciais instala-se o nexo de causalidade.
Já, para a configuração do elemento “culpa” como pressuposto de indenizar, se faz necessária a comprovação de que o agente, de forma culposa tenha se omitido em seu dever de prestar afeto ao filho, se negado a participar do desenvolvimento de sua personalidade.
Nessa vertente da relação paterno–filial em conjugação com a responsabilidade civil, há o viés naturalmente jurídico de buscar–se indenização por danos morais em face dos prejuízos causados pelo pai, por força da conduta imprópria quando nega ao filho o amparo afetivo.
O fundamento dessa interpretação reside no fato de que o Código Civil estabelece que, aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, conforme disposição expressa no artigo 927, “ Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, que deve ser conjugado em consonância com o art. 186 do mesmo diploma legal.
Por seu turno, o artigo 186 do Código Civil estabelece que; “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Conclui-se que, presentes os pressupostos estabelecidos nos referidos artigos assiste ao prejudicado o direito a ser indenizados pelos danos sofridos. Outro fundamento para o dever de indenizar pela ausência do afeto paterno-filial, baseado na violação à dignidade da pessoa humana, encontra-se presente no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, ao dispor o legislador constituinte que:
Art.227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à saúde, á educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Da interpretação desse dispositivo é incontestável o dever de proteção à criança, não só pela família, pela sociedade, como também pelo Estado. Dentre as formas de proteção estabelecida no referido artigo, destaca-se a obrigatoriedade de resguardar a criança da violência. Nesta perspectiva, não devemos nos esquecer dos outros dispositivos infraconstitucionais já mencionados.
É pacifico que na doutrina moderna o termo violência não se restringe apenas a lesões que causem a dor física do indivíduo, mas abrangem também e principalmente aquela que lesiona o íntimo das pessoas, causando lhe sentimentos de profunda tristeza, magoando seus mais sublimes valores como ser humano, consequentemente violando a sua própria dignidade.
Destarte, “o mais grave é mesmo o abandono psíquico e afetivo, a não presença do pai no exercício de suas funções paternas” Dias (2009, p.346). Nessa linha de raciocino, ganha relevância a ausência do afeto paterno-filial como fato gerador da indenização por dano moral, posto que assegurado o direito constitucional à dignidade, implicitamente está assegurada a proteção aos valores íntimos que integram o campo psíquico da pessoa, que em sendo violados, hão se ser reparados pela via da indenização por danos morais.
A pretensão da indenização por danos que violam a dignidade pode ainda encontrar fundamento no disposto no § 4º do artigo 227 da Constituição Federal ao dispor que: “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”
Como mencionado anteriormente, a interpretação do termo “violência”, no referido dispositivo, deve abranger, tanto o aspecto físico, como moral, pois nisto reside a proteção integral destinada à criança, em conformidade a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Considerando que a ausência de afeto paterno-filial implica numa forma de violência moral à criança, entende-se cabível, como forma de punição, a indenização pela reparação dos danos decorrentes da omissão do afeto materno e paterno.
CAPÍTULO 8 - Análise do caso concreto
Nesse momento, expor-se-á um caso que chamou atenção. Mais um dentre os milhares de casos que possivelmente povoam nossas escolas. Trata-se do H. F.S.P, aluno da Escola Estadual Professora Yolanda Martins, de Ibirité/MG. O aluno HFSP ingressou na instituição no 3º ano de Escolaridade no ano de 2005. Desde seu ingresso apresentou um comportamento agressivo, apático às atividades tradicionais, sempre envolvido com situações conflitantes, as quais era sempre o protagonista das confusões. Este comportamento lhe custou inúmeras ocorrências, convocações dos seus pais e, por consequência, péssimo desenvolvimento cognitivo e comportamental.
No ano de 2007, o aluno H.F.S.P. foi promovido para o 5º ano de escolaridade, sempre muito agito, não apresentando melhoras em seu comportamento. Em inúmeras situações, sua agressividade se mostrava maior e mais danosa, haja vista, que já possuía 12 anos de idade e estava sofrendo todas as transformações inerentes à adolescência.
Já no seu primeiro ano de magistério, a jovem professora Luciana Leite Rosa, formada em Pedagogia com Ênfase nas Séries Iniciais, pelo Instituto de Educação Superior Anísio Teixeira/FHA, foi a última a ser designada no processo de contratação para a o ano de 2007. Por ser a última a ser contratada, lhe foi atribuída a turma F4.1 a qual o aluno HFSP fazia parte. Segundo a professora o aluno se mostrava apático a todos as atividades tidas como tradicionais; não copiava do quadro, não fazia os exercícios de sala de aula; não apresentava as atividades extraclasse; seus cadernos eram desorganizados e ainda apresentava uma série de dificuldades como déficit de atenção, concentração, coordenação motora não desenvolvida para a idade. A socialização com os colegas e professora a princípio era difícil, pois demonstrava atitudes egocêntricas, não aceitando a opinião dos outros e se mostrava irritado ao ser contrariado, tornando difícil a convivência . Contudo, os colegas o excluía das atividades e trabalhos de grupo dentro e fora da sala de aula, pois foi observado o mesmo comportamento durante o recreio e outras atividades “livres”.
No início do ano letivo foi feito uma atividade para diagnosticar o nível de conhecimento; capacidades e habilidades já consolidadas pela turma; para surpresa da professora o aluno HFSP não consolidou capacidades básicas de leitura e escrita; não reconhecia as letras do alfabeto e menos ainda as funções da escrita para o meio social; demonstrava certa intimidade com os cálculos, mas não conseguia sistematizar as operações. Identificadas as dificuldades de aprendizagem do aluno através do contato e convivência, o que só é possível perceber através dos mesmos, e não apenas com avaliações tradicionais, foi a partir daí que a professora pensou em novas estratégias e práticas pedagógicas de intervenção, pois percebeu que o comportamento indesejado por parte do aluno estava diretamente ligado à questões de aprendizagem, ou seja, suas atitudes eram reflexo do que ele não “sabia”, do que não havia aprendido e precisava chamar atenção de alguma forma. Assim o aluno acabava por se tornar o pivô de toda aquela agitação que se alastrava para o restante da turma.
A analise de documentos e registros feitos por diferentes professoras indicam desde o primeiro ano de escolaridade do aluno H.F.S.P. suas inúmeras dificuldades de aprendizagem e socialização, déficit de atenção e concentração, mau comportamento e agressividade. Em alguns dos relatórios, de forma mais sucinta em outros de forma mais explicita, mas todos com pontos negativos do comportamento do aluno estão sempre em destaque. É importante salientar que o aluno chegou à escola e foi matriculado no primeiro ano de escolaridade, tendo ele já feito a mesma séria/ano em outra escola, não alcançado os objetivos as competências mínimas para a série/ano.
Segundo o relatório da professora do 1º ano, o aluno demonstrava muitas dificuldades de aprendizagem, agressividade, irritação com os colegas e muita dependência na realização das tarefas.
No 2º ano de escolaridade, a professora ressaltou lentidão e falta de interesse no processo de aprendizagem por parte do ano.
No 3º ano, apesar de suas dificuldades que persistiram, como: a leitura, organização de ideias, escrita (grafia), a professora destacou suas habilidades nas atividades de raciocínio, cálculo e atividades artísticas.
No 4º ano, inicialmente foi percebido pela professora uma inquietação, falta de organização, desinteresse e dificuldades para fazer registros das aulas. Através de uma atividade diagnóstica, constatou - se que o aluno estava no nível silábico da escrita, se sentindo envergonhado por estar no meio de crianças com menos idade e mais avançadas no processo de aprendizagem. Por este motivo, o aluno não demonstrava interesse em aprender, também não interagia com os colegas e a professora. Suas habilidades para os cálculos foram mais uma vez destacadas e relacionadas com sua vivencia.
Em um relatório mais elaborado, atento desde inicio do ano letivo e sempre relacionando às avaliações posteriores, percebe-se uma linha de evolução no processo de ensino-aprendizagem do aluno. A professora percebeu em seu comportamento que ao deixar de fazer, ao implicar com os colegas, provocar brigas e até na sua falta de interesse, o que o aluno mais precisava era melhorar sua alto-estima, receber elogios, ser reconhecido, se sentir importante para alguém. Percebido isso, surgiu a necessidade de novas práticas, mas não individualizada, ao contrario, prática/metodologia que o incluísse, que o fizesse sentir parte daquele grupo, pois o que o impedia de aprender não era suas limitações físicas, aparentemente não existia. Suas limitações eram psicológicas e emocionais.
Segundo a professora Luciana Leite Rosa:
“No caso específico do aluno em questão, para me aproximar da realidade vivida pelo aluno, coloquei em prática uma pesquisa, juntamente com o diretor da escola, Prof. José Geraldo de Moraes, o instrumento denominado anamnese, o qual me serviu como base fundamental para observar a estrutura familiar do aluno o que me influenciou ainda mais na formulação do projeto de intervenção. Desde então o desafio era projetar situações que o fizesse se sentir confortável, pois a partir da pesquisa realizada com o aluno citado, observei como sendo a mãe sua única referência familiar e o pai era uma figura ausente. Procurei também propor atividades coletivas e não individualizadas e específicas para o aluno em questão.
Com a observação do comportamento do aluno em sala, foi possível observar algumas situações evidentes em seu convívio familiar; era sempre inquieto, indisciplinado, agressivo, sem limites, não respeitava regras, bastante desorganizado, não gostava de participar das atividades propostas em grupo, se excluía em todos os momentos, inclusive era o último a sair da sala quando tocava o sinal. Mostrava ser muito inseguro e rejeitado. Situação pela qual percebia o seu profundo incômodo. A mãe em seus relatos disse ter sido muitas vezes agredida pelo pai do aluno e que queria impedi-la de continuar a gestação da criança na época e mesmo durante um tempo depois do nascimento, o menino presenciou as agressões que não cessaram. Ela diz ainda, que seu filho tem esse comportamento porque desde a sua gestação ele sentia a rejeição do pai, e consequência disso é esse comportamento descontrolado e agressivo. Além de não conseguir socializar no meio em que vive, ele se acha inferior, o que interfere radicalmente no processo de aprendizagem do mesmo”.(entrevista feita na escola Estadual Professora Yolanda Martins, 20 dez. 2011).
A anamnese foi o instrumento de pesquisa utilizado para entender as relações do aluno com a família/escola na tentativa de entender quais os motivos levaram o aluno a construir um histórico escolar repleto de dificuldade e conflitos os quais lhe custaram múltiplas retenções e baixo desenvolvimento cognitivo e disciplinar.
Neste horizonte de pesquisa, faz-se necessário a analise do relacionamento paterno-filial entre o genitor e o aluno em questão. Sabíamos a princípio, que o aluno não possuía nenhum relacionamento com seu pai. Nos inúmeros episódios de conflito dentro de sala de aula os quais resultaram na convocação de seus responsáveis, apenas a mãe comparecia para a resolução dos problemas escolares. Isto nos chamou a atenção. Abriu-se a partir deste momento o questionamento acerca das consequências do abandono afetivo o qual o aluno estava sendo submetido desde seu nascimento.
8.1- Anamnese como instrumento de análise
Anamnese é um instrumento essencial para um bom diagnostico. Seu manejo adequado possibilita ao terapeuta ampliar horizontalmente a fala sintomática, partindo da queixa apresentada pelo sujeito (cliente) para sua construção de vida. Durante esse processo, os diferentes atores de sua rede relacional (real e fantástico) e sua ambiência se fazem presente, desvalendo tanto o sintoma apresentado quanto a forma como este repercute na e para a família. Mas para atingir esse objetivo é fundamental que a anamnese não seja reduzida a uma aplicação de “questionário”. É preciso acolher (essa família que chega dar-lhe a possibilidade de escuta compreensão de seu sofrer). E nada mais propicio para esse objetivo do que conjugar a compreensão empática do terapeuta com a entrevista semi dirigida. Esta, se caracteriza por perguntas “abertas” que demandam do entrevistado a iniciativa de “falar por si”, ou seja, sem recurso defensivo do questionário. É claro que o terapeuta pode – e deve – recorrer a perguntas mais especificas quando algum tema não for bem esclarecido, mas, em linhas gerais, sempre que necessário é só conjugar paralelamente de colocações “abertas”.
A sequência de informações a serem levantadas na anamnese é importante que seja seguida, pois ela parte das informações menos ansiogênicas para as mais ansiogênicas de modo a diminuir a resistência dos pais. Esta entrevista é um dos principais pontos para um bom diagnóstico, pois possibilita a integração do passado, presente e futuro do sujeito.
8.1.1 – A aplicação do instrumento
No ano de 2007 foi feito um trabalho de intervenção pedagógica com o aluno HFSP para sanar sérias dificuldades cognitivas e disciplinares presentes em todo seu histórico na instituição de ensino. Com o auxílio da professora Luciana Leite Rosa, como já mencionado anteriormente, foi possível identificar que as referidas dificuldades de aprendizado e disciplina estavam intimamente relacionadas aos conflitos famílias que a criança sofria mesmo antes de seu nascimento. As repetidas agressões sofridas pela mãe, as diversas tentativas de aborto impostas pelo pai e o completo abandono paterno foram já na época fortíssimos indícios das causas dos transtornos de comportamento que a criança apresentava. Naquele que ano o aluno HFSP estava cursando o 5º ano de escolaridade, com 12 anos de idade, defasado para sua idade, não conseguia sucesso em praticamente nenhuma atividade que lhe era proposta.
O aluno foi promovido para o 6º ano (5ª série) e novamente apresentou sérios transtornos de comportamento. Sua mãe foi convocada inúmeras vezes a comparecer na escola, mas não foram vistos avanços.
Cansada dos insucessos a mãe do aluno optou por transferi-lo para outra escola, o que lhe causou sérios problemas financeiros pois o custo de transporte lhe era extremamente oneroso. Por este motivo, o aluno foi obrigado a abandonar a escola no ano de 2008.
No ano seguinte o aluno retornou à escola de origem para frequentar novamente o 6º ano. Apresentou durante todo o ano muitos problemas disciplinares e cognitivos. Novamente a mãe foi convocada inúmeras vezes a comparecer à escola.
Mesmo presentando muitas dificuldades o aluno foi promovido para a série seguinte e no ano de 2010, frequentou o 7º ano. Muito ausente e com recorrentes episódios de indisciplina, foi por meio das inúmeros recuperações que foi promovido para a série seguinte.
Em 2011, frequentou no turno da manhã o 8º ano de escolaridade. Neste ano, o aluno se mostrou mais compassivo e dedicado, já estava com 16 anos e demonstrava interesse em muitos assuntos diversos aos naturais de crianças. O fato de estudar em uma turma a qual a maioria dos alunos possuía 12 ou 13 anos o constrangia profundamente.
Em 2012, devido à sua idade avança foi forçado a estudar no período da noite. Frequentou alguns dias mas evadiu-se da escola.
Quando da aplicação deste instrumento de Anamnese o menor HFSP ainda não havia voltado a escola e segundo relato da própria mãe, provavelmente não retornará este ano.
Em contato prévio com a mãe do aluno, o encontro para a tomada da entrevista foi agendada para o dia 26 de abril deste ano. Prontamente, a mãe nos atendeu e com as devidas autorizações o presente instrumento foi aplicado.
8.1.2 – O instrumento
1. Dados pessoais
Nome da criança: H.F S P____________________________
Data de nascimento: 09/06/1995__ Idade: 16 anos Sexo: masculino
Filiação:
Mãe: Vânia dos Santos Silva______________________________________
Pai: Carlos Alberto de Paula______________________________________
Profissão/escolarização:
Mãe: Cozinheira / 8ª série do ensino fundamental______________________
Pai: Técnico em eletrônica / 2º grau_________________________________
Grupo familiar:
Nome
Parentesco
Idade
Vânia
Mãe
40 anos
Nelson
Padrasto
34 anos
LC
Irmão
21 anos
CA
Irmão
20 anos
LF
Irmão
18 anos
TSP
Irmão
15 anos
VS
Irmã
12 anos
JN
Irmão
8 anos
2. Onde mora. Casa própria ou aluguel
Bairro Canaã – Ibirité, mora de aluguel.
3. História pregressa da criança e relações familiares e sociais
A mãe relata que a gravidez não foi planejada; não a rejeitou em momento algum, mas seu marido a culpou. Mesmo não admitindo o uso de preservativos ou qualquer outro método contraceptivo, não desejava a criança. E ainda obrigava a mãe a tomar remédio para abortar. Ela se emociona ao dizer que graças a Deus isso não aconteceu. Parentes mais próximos, só a sogra diz a mãe, que mesmo vendo toda a infeliz situação não interfere nas atitudes do filho, preferia não opinar.
Durante a gestação teve o acompanhamento médico (pré-natal), mas comenta das várias complicações geradas pelo seu estado emocional abalado e devido ao fato do pai da criança (marido), a espancar quase todos os dias. Segundo a mãe, o médico se impressionava quando ela chegava com todos aqueles hematomas pelo corpo e o bebê sem nenhum problema aparente, tratava-se de um milagre.
As recomendações médicas não eram aceitas pelo pai, a mãe relata que adquiriu uma forte anemia durante a gestação. E uma alimentação saudável e alguns medicamentos prescritos pelo seu médico eram simplesmente ignorados pelo pai que ainda jogava todos os remédios no lixo, impedindo a mãe que se tratasse. E o quadro da doença só piorava. Com todos esses transtornos desenvolveu também um quadro depressivo e uma gravidez de auto risco.
O parto foi normal, com algumas complicações como hemorragia; apresentando risco para a mãe e para a criança. As recomendações medicas eram para que tanto a criança quanto a mãe permanecessem no hospital durante um mês para maiores cuidados; devido ao quadro de precária saúde apresentado pela mãe e a criança ter nascido com pneumonia. Mesmo assim, o pai não aceitou os cuidados, permitindo que os dois ficassem apenas dois dias no hospital, logo em seguida os levou para casa, mesmo sabendo que a mãe não teria condições de cuidar da criança naquele momento.
Os transtornos agravaram o quadro depressivo da mãe, o desespero quase a levou a loucura, comenta que chegou a ser internada em “hospital de doidos” pelos seus lapsos que a tiram de si.
A mãe relata que mesmo com todas as complicações que teve, ainda assim amamentou a criança durante dois meses. Muito fraca, a criança tinha que se alimentar a base de leite de cabra ou de soja, recomendado pelo médico. E mais uma vez ignorada pelo pai, a criança desenvolveu aos dois meses de vida um quadro de desnutrição de 3º grau, o que a levou a uma internação de cinco meses. Sempre acompanhada pela mãe, a criança deixa o hospital aos sete meses e meio. Uma série de exames foi feitos inclusive o de HIV, pois a criança não reagia aos medicamentos, não se diagnosticava outra a não ser a desnutrição. Durante todo esse tempo, o contato que a criança teve, foi somente com a mãe, que segundo ela nenhum de seus familiares ou pai da criança a visitou.
Segundo a mãe, a criança não apresentou nenhuma ausência de respostas aos estímulos durante seus primeiros meses de vida. Falou aos dois anos, e devido ao quadro severo de desnutrição andou aos quatro anos de idade. Antes de entrar na escola, a criança tem muitas dificuldades de socialização; bastante inibida, não gosta de falar, pouco expressiva, um amiguinho no máximo, e muita dificuldade para se relacionar com crianças da mesma idade ou maiores; sempre se aproximava dos menores, talvez num sentido de proteção. Percebendo a dificuldade para se socializar, a mãe a coloca no jardim para se relacionar com outras crianças. A principio resistiu muito a tudo que a escola/professor propunha como atividade, não participava nem mesmo das atividades lúdicas, simplesmente apático a tudo. Foi encaminhado a psicólogos, durante dois anos fez tratamento com neurologista, fez uso de remédio controlado e ainda sim apresentou poucos resultados enquanto ao comportamento.
4- Questionário
1- A gravidez foi planejada?
Não
2- Se não foi planejada, como foi a aceitação da mesma pelo pai?
De pronto foi extremamente negativa pois já possuíam outros filhos e segundo o pai as despesas iriam aumentar muito.
3- Durante a gestação teve acompanhamento médico?
Sim, poucas vezes
4- Teve algum problema de saúde, complicações durante a gestação?
Sim, vários devido aos maus tratos e aos remédios abortivos que era obrigada a tomar pelo marido.
5- Caso teve algum problema o pai da criança a auxiliou?
Não
6- Durante a gestação apresentou quadro depressivo?
Sim, devido aos mãos tratos, espancamentos diários ao isolamento a qual seu marido a impunha.
7- Como foi o parto?
Normal
8- O pai esteve presente no momento do parto?
Não
9- O pai fez o registro civil da criança dentro do prazo legal?
A mãe fez o registro depois da alta no hospital mas o nome do pai foi inserido no registro após ação de reconhecimento de paternidade. Apesar dos genitores coabitarem e o pai reconhecer que era pai da acriança, mesmo assim ele se recusava a registrá-la como seu filho pela total rejeição do nascimento do mesmo.
10- A mãe teve depressão pós parto?
Não, mas teve uma severa anemia devido à má alimentação durante a gestação
11- Amamentou a criança? Até quando?
Apenas 1 mês, devido ao quadro grave de anemia não produziu leite suficiente e também o pai não deixou mais amamentar.
12- Quando a criança falou?
Com dois anos de idade
13- Quando a criança andou?
Com quatro anos de idade
14- O pai esteve presente nestes momentos?
Não
15-Percebeu na criança alguma ausência de respostas aos estímulos?
Não
16- Há algum diagnóstico clinico?
No nascimento da criança ela apresentou um grave quadro de pneumonia cumulada com um quadro de desnutrição de 3º grau, ficando internado por mais de 5 meses por diversas complicações como rejeição a lactose.
17- Quando nas visitas ao médico o pai estava presente?
Não
18- Quem fez a matrícula da criança na escola?
A mãe
19- Quem leva a criança à escola?
A mãe
20- O pai participa das atividades escolares da criança?
Nunca participou
21-- Nas reuniões, quem vai à escola?
Apenas a mãe
22- Quem repreende a criança em virtude das baixas notas?
Apenas a mãe pois o pai não possui contato algum com a criança
23-Quem premia a criança em virtude das altas notas?
Apenas a mãe
24- Quem participou das formaturas da criança?
Apenas a mãe e seus familiares
25- Como é o ambiente familiar, harmonioso ou há muitos conflitos?
Hoje em dia não há tantos conflitos devido ao fato do pai não estar mais presente mas a rebeldia e a indisciplina também é frequente em casa.
26- Qual o grau de dependência da criança para realizar as tarefas cotidianas?
Já foi total, no entanto, com o passar dos anos a criança, hoje adolescente, foi aprendendo a ser mais independente.
27- Qual o grau de independência da criança para realizar as tarefas cotidianas?
Hoje em dia é praticamente total
28- Você acredita que a ausência do pai foi positiva ou negativa no desenvolvimento do seu filho?
Acredito que foi negativo devido aos problemas de indisciplina, agressividade e a falta dos limites que eu vejo que meu cunhado, por exemplo, impõe aos seus filhos. Acho que isto faz muita falta na vida da criança, mesmo porque, sempre tive que trabalhar para sustentar meus filhos e por isto o deixava muitas horas sozinho.
29- Hoje já adolescente, seu filho tem vontade de ter contato com o pai?
Sim, ele sente falta de fazer atividades como jogar bola, passear, conversar com alguém próximo a ele que seja homem, acho que ele ouve este tipo de conversa dos colegas da escola.
30- O pai demonstra interesse em interagir com o filho?
Nunca demonstrou interesse.
8.2 Aplicabilidade da Responsabilidade Civil no abandono afetivo paternal no caso em estudo
A responsabilidade civil saiu da esfera contratual para entrar no direito de família brasileiro buscando na indenização pecuniária uma forma de suprir um espaço vazio deixado em razão do grande sofrimento causado pelo abandono afetivo paternal. Mesmo antes de nascer o aluno HFSP sofreu reflexos perversos do abandono afetivo promovido pelo pai, chegando ao extremo, configurado na tentativa do pai em causar o aborto do próprio filho, conforme relatos da mãe.
No Código Penal Brasileiro, no título VII “dos crimes contra família”, dispõe de três formas de abandono, sendo eles: o abandono material, abandono intelectual, e por fim, o abandono moral. O pai do aluno HFSP a principio, cometeu todas condutas ilícitas citadas, no entanto, o tema em questão é o abandono afetivo, que ainda não foi positivado em lei ou sequer mencionado na Constituição Federal (artigo 227, caput). E por mais que tenha havido esforços por parte do legislador, ele não estipulou penas de caráter punitivo pela inobservância do elemento “dever de afeto”. Assegurou somente o dever da família, o dever do poder familiar de cuidar como está disposto nas normas constitucionais do art. 229 e infraconstitucionais do art. 22 do ECA e 1.634 do Código Civil. O dever do poder de familiar conjuga-se com o dever do estado e da sociedade. Acreditamos que houve um erro do legislador constitucional ao não fazer referência expressa ao afeto, sendo que ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento do caráter da pessoa e principalmente no que tange ao desenvolvimento moral. Não são raras as tentativas de positivar a obrigatoriedade dos pais em prover o afeto aos filhos. Tramita na Câmara o Projeto de Lei 4294/08 do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT) que sujeita pais que abandonarem afetivamente seus filhos ao pagamento de indenização por dano moral. Ao remeter o projeto à apreciação das comissões parlamentares o deputado justificou em forma de anexo:
“Entre as obrigações existentes entre pais e filhos, não há apenas a prestação de auxílio material. Encontra-se também a necessidade de auxílio moral, consistente na prestação de apoio, afeto e atenção mínimas indispensáveis ao adequado desenvolvimento da personalidade dos filhos ou adequado respeito às pessoas de maior idade.
No caso dos filhos menores, o trauma decorrente do abandono afetivo parental implica marcas profundas no comportamento da criança. A espera por alguém que nunca telefona - sequer nas datas mais importantes - o sentimento de rejeição e a revolta causada pela indiferença alheia provocam prejuízos profundos em sua personalidade.”
A proposta busca alterar a legislação atual. O autor do projeto de lei acredita que as obrigações paternas em relação aos filhos, não se limitam a apenas à prestação de auxílio material, mas também a necessidade de apoio, afeto e atenção mínimas indispensáveis ao adequado desenvolvimento da personalidade dos filhos.
As comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania estão analisando o matéria, que tramita em caráter conclusivo. Caso seja transformado em lei e sancionado pela presidente, as alterações que ocorrerão no ECA, atribuindo a ação de abandono como conduta ilícita, irão pacificar o entendimento dos tribunais a cerca desta demanda que cresce a cada ano.
As comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania estão analisando o matéria, que tramita em caráter conclusivo. Caso seja transformado em lei e sancionado pela presidente, as alterações que ocorrerão no ECA, atribuindo a ação de abandono como conduta ilícita, irão pacificar o entendimento dos tribunais a cerca desta demanda que cresce a cada ano.
Para o aluno HFSP o abandono afetivo foi tão prejudicial quanto o abandono material. Podemos dizer que foi mais danoso que a ausência material. A carência material pode ser superada com a dedicação da genitora ao trabalho; ao passo que o afeto paterno a mãe não pode substituir. Neste caso, foi observado que a ausência do afeto corrói princípios morais e afetivos da criança pois eles estavam não consolidados na personalidade da criança, ou melhor, estava em construção.
O abandono gerou um desamparo por parte do agente passivo. Não obstante, ele foi a parte mais frágil e que mais sofreu quando da separação do núcleo familiar. Os anos iniciais de vida são cruciais para o desenvolvimento emocional da criança. A família é o locus potencialmente produtor de pessoas saudáveis, emocionalmente estáveis, felizes e equilibradas, por outro lado a família “desfalcada” se torna o núcleo gerador de inseguranças, desequilíbrios e toda sorte de desvios de comportamento.
HFSP foi vítima de um processo de desconstrução familiar pré-natal que foi fonte indubitavelmente da não construção de todos os aspectos cognitivos, morfológicos, fisiológicos, afetivos e emocionais da criança. A psicologia labora sua doutrina na compreensão do comportamento humano no seio da família. É na família que socializamos a criança projetando-a para a comunidade. A convivência familiar sadia é indispensável para modular o temperamento e instrumentalizar o caráter. Uma sólida estrutura familiar é o grande segredo da estrutura social. Lembrando que a família não é apenas o modelo patriarcal (pai-mãe-filho) coabitando no mesmo espaço, mas sim a relação saudável entre os agentes familiares, inclusive não há a necessidade que os genitores compartilhem uma vivência amorosa. Muitas vezes, o ambiente familiar patriarcal ao invés de ajudar na formação da criança, atrapalha, corroendo toda uma estrutura emocional que ainda se encontra em formação. O aluno HFSP foi vítima do abandono afetivo, não desenvolvendo o discernimento para superar. Nos primeiros anos de vida HFSP estava no auge de sua formação psicológica, sendo incapaz de determinar as causas da separação de seus progenitores, ou de entender o afastamento do pai, que com o passar do tempo, se tornou um desconhecido um para o outro.
Um dos primeiros traumas que HFSP sofreu na infância foi dentro da escola. Com a chegada das datas festivas, como dia das mães ou dos pais, ela geralmente foi convidado a fazer uma homenagem ao seu ente querido. – E como explicar a ele que lhe falta este pilar familiar. Que não há um pai por perto para que assista a apresentação -. Não há a maneira mais suave de explicar a uma criança que seu pai, o abandonou. Os anos de escolaridade que se seguiram foram marcados de fracassos, frustações e desvios sérios de comportamento, seja pela necessidade de externar seu descontentamento pelo abandono, seja pela necessidade de se fazer visível pela mãe, pois segundo o próprio aluno a presenta constante da mãe na escola, quando convocada para resolver questões de indisciplina, lhe trazia segurança e conforto. Para tanto, fazia-se necessário a expor toda sua agressividade em relação aos servidores da escola e demais alunos para que sua mãe fosse novamente chamada à escola.
Neste caso em estudo, acreditamos que o afeto em si, não pode ser incluído no patrimônio moral de um ou de outro, de tal modo que da sua deterioração resulte a obrigação de indenizar o ‘prejudicado. Giselda Hironaka explica dizendo que a produção do liame necessário – nexo de causalidade essencial – para a ocorrência da responsabilidade civil por abandono afetivo deverá ser a consequência nefasta e prejudicial que se produziu na esfera subjetiva, íntima e moral de HFSP, pelo fato desse abandono perpetrado culposamente por seu pai, o que resultou em dano para a ordem psíquica daquele.
Com isso, é de se constatar que o abandono afetivo paternal preenche os pressupostos da responsabilidade civil, tornando-se uma via para se demandar juridicamente sempre que se sentir lesado pela ausência da presença da função paterna. Lembrando que por ser um direito personalíssimo do indivíduo, esta tutela adota o princípio da imprescritibilidade. Mesmo agora com 16 anos de idade, HFSP poderá propor a ação responsabilizando seu pai pelo abandono afetivo pleiteando o ressarcimento do dano causado ao seu patrimônio moral.
Com base nisto cabe faz-se necessário a brilhante contribuição do magistrado Dr. Mário Romano Maggioni, a cerca da função paterna, proferindo o primeiro provimento acerca da indenização por danos morais na relação por abandono afetivo paterno-filial no Brasil:
"A função paterna abrange amar os filhos. Portanto, não basta ser pai biológico ou prestar alimentos ao filho. O sustento é apenas uma das parcelas da paternidade. É preciso ser pai na amplitude legal (sustento, guarda e educação). Quando o legislador atribuiu aos pais a função de educar os filhos, resta evidente que aos pais incumbe amar os filhos. Pai que não ama filho está não apenas desrespeitando função de ordem moral, mas principalmente de ordem legal, pois não está bem educando seu filho. (...) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos (artigo 22, da lei nº 8.069/90). A educação abrange não somente a escolaridade, mas também a convivência familiar, o afeto, amor, carinho, ir ao parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para que a presença do pai ajude no desenvolvimento da criança. (...)"É menos aviltante, com certeza, ao ser humano dizer ‘fui indevidamente incluído no SPC’ a dizer ‘fui indevidamente rejeitado por meu pai” (www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8516#_ftn22 – Acesso dia 02/05/2012 às 01h05mim)
Como já foi mencionado, recentemente o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que o abandono afetivo por parte dos pais é passível de indenização por danos morais. A frase “amar é faculdade, cuidar é dever” da ministra Nancy Andrighi, ilustra bem o posicionamento da Corte Superior.
No caso julgado, a autora ajuizou ação em face do pai, após ter obtido reconhecimento judicial da paternidade, alegando ter sofrido abandono material e afetivo durante a infância e adolescência.
Como bem destacou a Ministra, “aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos”. Tal afirmativa resume de forma substancial este trabalho, não obstante ela abrilhanta nossa epigrafe.
No caso julgado, a ministra ressaltou que a filha superou as dificuldades sentimentais ocasionadas pelo tratamento como “filha de segunda classe”, sem que fossem oferecidas as mesmas condições de desenvolvimento dadas aos filhos posteriores, mesmo diante da evidente presunção de paternidade e até depois de seu reconhecimento judicial.
A autora da ação conseguiu sua colocação profissional, constituiu família e filhos e conseguiu crescer com razoável dignidade. Porém, os sentimentos de mágoa e tristeza causados pela negligência paterna perduraram. O que não aconteceu com HFSP, que teve profundas perdas ao longo da vida. O sofrimento em virtude do abandono paterno, que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. Acreditamos que a ofensa à integridade física e psíquica, decorrente de um crescimento desprovido do afeto paterno, o abandono afetivo se apresenta também como ofensa à dignidade da pessoa humana, bem jurídico que a indenização do dano moral se destina a tutelar.
Prevê o artigo 1º, inc. III, da Constituição Federal de 1988 que o nosso Estado Democrático de Direito tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, sendo observado como um princípio máximo do Direito moderno e considerado pelos doutrinadores como o “ponto de partida do novo direito de família brasileiro”. É com base nele que é discutida toda e qualquer nova lide que surja no âmbito do direito familiar, pois protegendo a dignidade da pessoa humana, estará sendo protegido o núcleo familiar como um todo. Interligado ao princípio da dignidade está o da afetividade. Este é o principal fundamento das relações familiares. E por mais que não haja no texto maior da magna carta sua caracterização como um direito fundamental, pode-se dizer que o afeto decorre da constante valorização da dignidade da pessoa humana, sendo assim por essência, cláusula pétrea, um direito fundamental do cidadão.
A estrutura familiar não se limita mais apenas ao vínculo biológico ou a coabitação dos genitores com seus filhos. Ela traz o afeto como sua maior característica atualmente. Não cabendo ao pai dar somente os alimentos. A nova temática do Direito de Família é dar a devida atenção aos filhos com afeto, educação, proteção e respeito para que esta criança em formação se desenvolva emocionalmente equilibrada.
Pela ausência do princípio da Afetividade, a cada dia os tribunais de todo país estão recebendo a demanda de filhos cobrando de seus pais aquilo que deveriam ser deles de direito: o afeto. E muitos questionam se há legitimidade do filho em demandar contra seu pai por abandono afetivo parental.
Há sim a possibilidade de vincular um título de contraprestação a título de reparação do ato ilícito praticado, neste contexto, denominado de dano moral. Deixar de indenizar um filho pelo abandono de seu pai abre precedentes para que mais casos semelhantes ocorram, instalando-se desta forma, a impunidade absoluta dentro da relação familiar.
É público e notório que o genitor do aluno HFSP não é possuidor de muitos recursos, cabendo ao judiciário estipular a justa indenização. Por este motivo, a referida indenização deverá possuir uma função pedagógica, educativa. Muito mais do que compensar à vítima do dano sofrido ou punir o ofensor, a reparação civil deverá ter a função de alertar à sociedade que condutas semelhantes àquela do ofensor não serão permitidas pelo ordenamento jurídico, portanto, uma função de desestimular condutas semelhantes. Também é notório que o dinheiro não tem a capacidade de eliminar a agressão moral sofrida. Porém, servirá como um consolo, no sentido de atenuar o dano decorrente do abandono. Podendo ele ser utilizado para financiar as custas de um tratamento psicológico, por exemplo. E também mostrar aos pais negligentes que esta conduta é vista como incorreta pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, não há que se falar em grande monta de valores pecuniários, mesmo porque, o sofrimento psicológico não se estancará com a moeda corrente. Portanto, a função do dinheiro no âmbito do dano moral é configurada de forma derivada, ou seja, a quantia estabelecida como referência não esta direcionada ao pagamento da dor ou do sofrimento experimentado. A sua importância maior está exatamente no lado contrário ao da vítima, ou seja, o ofendido. Ele é a principal razão para a aplicação da quantia em pecúnia quando se fala em dano moral.
Acreditamos também que a indenização por abandono afetivo, se for utilizada com moderação e bom senso, sem ser transformada em verdadeiro altar de vaidades e vinganças ou em fonte de lucro fácil, poderá converter-se em instrumento de extrema importância para a configuração de um Direito de Família mais consentâneo com a contemporaneidade, podendo desempenhar, inclusive, um importante papel pedagógico no seio das relações familiares. Nesta perspectiva, o abandono afetivo paternal como fato gerador de indenizar traduz no argumento de que o dano sofrido pelo aluno HFSP é baseado na conduta negligente do pai haja vista que configura espécie de dano moral e ofensa ao direito de personalidade da criança. A falta do afeto por parte do pai é um vazio que nunca será suprido. A HFPS poderá viver a sua vida toda ao redor mãe, avós, tios e primos, sendo amada por todos. E mesmo assim, sentir uma tristeza profunda pela falta do pai que a abandonou.
No caso estudado o próprio aluno nos relatou, em simples palavras, que ser criado sem pai nem sempre representa um trauma, especialmente no contexto da necessidade material. O cerne da questão é sua consciência de que o pai está vivo e exerce a rejeição por livre escolha, muitas vezes, de maneira vil e ardilosa.
Este sentimento deixa muito claro que a ausência do pai e pelo abandono sofrido, HFSP desenvolveu graves consequências na estruturação psíquica, repercutindo, assim, nas relações sociais como dificuldade de relacionamentos, baixa auto estima, ansiedade, agressividade, fracasso escolar, dentre outros.
Deve-se ir mais longe nesta análise, podemos concluir que o abandono afetivo paternal implica na desestrutura do próprio Estado. Pois a família quando fortalecida, o Estado se desenvolve. Quando fragilizada se desestrutura, entrando em decadência. Portanto, a tese de que o Estado não deve intervir na esfera privada das famílias, esbarra frontalmente com sua função primaz que é o bem estar da sociedade e seu próprio desenvolvimento para a diminuição das desigualdades sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vislumbrou-se ao longo deste trabalho que a família contemporânea mostra-se com uma nova concepção, pois deixou de ser edificada numa família hierarquizada, na qual o pai acumulava a função de sacerdote, juiz e chefe político.
Embora a família tenha passado por essas transformações no decorrer da história, permanece como condição fundamental de humanização e socialização das pessoas. Apesar disso, era notável a preocupação do legislador brasileiro em sobrevalorizar os aspectos patrimoniais que envolviam as relações familiares, sobretudo com a edição do Código Civil de 1916, sem demonstrar maior interesse no tocante aos direitos inerentes às pessoas enquanto seres humanos.
Entretanto, as evoluções ocorridas na sociedade e as novas demandas retratavam que as disposições do Código Civilista do início do século XX já não condiziam com a realidade social. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, dentre as diversas novidades trazidas pelo constituinte originário, podemos destacar o nítido interesse do legislador em estabelecer regras notadas de garantias da proteção à pessoa humana e em especial aos integrantes da família, objetivando o bem estar de seus membros e seus pleno desenvolvimento.
Como mais uma forma de proteção às relações familiares, a Constituição Federal reconheceu que família não é apenas aquela fundada no matrimônio, mas também aquela constituída pela união estável ou ainda pela união de entes familiares com o fim de formar uma família monoparental, nuclear ou pós nuclear ou unilinear, assim alicerçando sua formação na ideia de felicidade, afeto, amor, carinho e solidariedade, demanda esta que há muito já era esperada pela sociedade.
A Constituição Federal também inovou positivamente ao reconhecer a necessidade do tratamento igualitário dos filhos, ficando expressamente vedada qualquer discriminação que pudesse ser feita em função de sua origem, o que lhes garantiu proteção jurídica, independente da família em que sejam concebidos.
Decorrentes dessas transformações, a família assumiu um novo papel dentro da sociedade, circunstância em que seus membros deixaram de ser tratados com desigualdade e passaram a ser considerados o centro dessa relação. Fundamental tal concepção, pois os indivíduos tidos como entes centrais da relação familiar e não o patrimônio puderam desenvolver entre si noções verdadeiras de afeto e amor e não simples e superficiais relações de interesse, inerentes `aquelas essencialmente patrimoniais. Além disso, a família foi instituída pelo legislador constituinte como base da sociedade, podendo se afirmar que entidade familiar deverá figurar como o alicerce de sustentação de toda a sociedade.
Destarte dizer que baseado nessas proteções, o Código Civil de 2002 também disciplinou as relações familiares conferindo aos pais direitos e deveres com relação aos seus filhos, através do instituto do Poder Familiar que, ao contrário do que possa parecer, traduz-se muito mais em deveres do que poderes. Nessa perspectiva, o pai não é mais visto como mero mantenedor do lar, mas como um indivíduo que possui uma função de extrema relevância dentro da família, a qual deve ser pautada no afeto para permitir que os filhos desenvolvam-se num lar em que o amor e o respeito entre pais e filhos sejam recíprocos. Importantíssima também, é a função do pai no desenvolvimento acadêmico dos filhos. A presença do genitor no cotidiano escolar traz para o filho a segurança, o incentivo, a disciplina e a motivação fundamentais para o seu avanço cognitivo. Simples gestos, como corrigir um exercício em casa, a leitura de um livro, a cobrança pelo estudo, a presença nas festas da família, a proteção contra injustiças, etc., fazem verdadeiramente enorme diferença no desenvolvimento psicossocial dos menores.
Nessa ótica, o cumprimento dos deveres do pai ganha uma nova dimensão, e o afeto passa a ser reconhecido como um elemento necessário e indispensável para o desenvolvimento saudável do filho, e sua ausência pode inclusive ocasionar danos irreparáveis na vida do filho.
Baseado nesses fundamentos de danos decorrentes da ausência do afeto paterno-filial o judiciário vem recebendo demandas pleiteando a indenização por dano moral, gerando por conseguinte polêmicas em torno da matéria. Uma das principais polêmicas reside na afirmação de que o afeto não é um dever, uma vez que nem o legislador constituinte, nem o legislador infraconstitucional o estabeleceram expressamente como tal. Porém essa é uma visão pouco atenta da legislação protetiva do menor. Para uma parte da doutrina aquele argumento cai por terra, levando em consideração que o direito ao afeto paterno-filial está implícito no ordenamento jurídico, cuja leitura deve ser feita em consonância com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, especificamente com relação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Decorrente desse princípio constitucional a doutrina é categórica em afirmar que a dignidade passou a ser considerada como fundamento maior e dela devem decorrer todas as normas que disciplinam e cadenciam o ordenamento jurídico. É a partir desse entendimento que deverá o magistrado buscar solucionar os conflitos sociais colocados sob a análise do Poder Judiciário, de maneira a assegurar ao ser humano seu mais importante e absoluto direito: sua dignidade.
Nessa perspectiva, poderá o operador do direito fundamentar o acolhimento do pedido de indenização por dano moral face à ausência do afeto paterno-filial com base no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal que estabelece que são invioláveis a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
A doutrina trouxe nova fundamentação para o cabimento da indenização por dano moral decorrente da ausência do afeto paterno-filial ao entender que os danos advindos dessa ausência demonstram uma conduta culposa do pai, que se configura num ato ilícito, com fulcro no artigo 186 do Código Civil, o que autoriza o dever de indenizar.
Embora parte da doutrina reconheça que este seja um dos fundamentos para o cabimento da indenização por dano moral, ainda questiona-se a falta de previsão expressa para que afeto seja considerado um dever legal. Diante desse fato indaga-se como proteger esse tipo de relação mediante a falta de lei específica. Tal indagação, no entanto, encontra resposta numa cláusula geral de proteção à tutela da pessoa humana, denominado de princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado expressamente no texto constitucional.
Com fundamento nesse princípio pode-se dizer que nenhuma forma de ofensa à pessoa humana deixará de ser amparada, uma vez que é por essa norma maior que deverá se assentar toda e qualquer regra prevista no ordenamento jurídico. Assim, pode se afirmar que o cabimento da indenização por dano moral decorrente da ausência do afeto paterno-filial, apesar de não encontrar norma expressa sobre o assunto, está devidamente fundamentado no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que nessa situação os danos advindos da falta de afeto paterno-filial demonstram que foi violado o direito à dignidade do menor.
Paralelo ao princípio da dignidade humana, o operador do direito poderá fundamentar –se nos deveres consagrados no art. 229 no qual é muito claro que os pais (pai e mãe) têm o dever de assistir, criar educar os filhos menores. Entende-se que assistir é estar próximo, contribuir indubitavelmente em todos as fazes de desenvolvimento da criança. Nesta perspectiva, ambos os pais são responsáveis por este dever, indiferente se coabitam a mesma casa ou não, ou se possuem bom relacionamento ou não.
Ainda corroborando com o Art.229 da Carta Maior, os artigos 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Art. 1.634 do Código Civil trazem claramente um rol taxativo de obrigações impostas pelo Poder Familiar.
Do exposto, é possível tecer as seguintes considerações: Podemos observar que desde os primórdios da civilização, busca-se solucionar os conflitos referentes ao relacionamento humano, objetivando uma convivência pacífica entre os indivíduos. No entanto, para o alcance desse objetivo é mister que nas transformações e na consequente evolução da sociedade o direito seja capaz de identificar e prestar a devida tutela às necessidades de seus indivíduos, que se manifestam de acordo com a realidade vivida por cada um.
Atualmente, não há como desconsiderar que o afeto seja uma necessidade indispensável na vida do ser humano, posto que este tem o poder de estabelecer nas relações pessoais vínculos de solidariedade, respeito, compreensão e amor acima de tudo.
E não é diferente quando se pensa no afeto paterno-filial, sabendo que a ausência desse afeto pode trazer danos irreparáveis na vida de uma criança. O que se pode observar na atitude dos pais é que pouco se importam em oferecer carinho e amor aos seus filhos, e que estes, independentes do motivo que os levam a agir dessa forma, não passam de meros reprodutores que exercem sua liberdade sem nenhuma responsabilidade. Ação essa duramente critica pela Ministra Nancy Andrighi, do STJ, ao proferir seu voto que condenou um pai ao pagamento de duzentos mil reais à filha a qual abandonou afetivamente durante toda a sua vida.
Nesse contexto, é possível considerar cabível a indenização por danos morais face à ausência do afeto paterno-filial, e as consequências nefastas na vida social e acadêmica da criança, levando em consideração que o grande número de regras previstas no ordenamento jurídico, expressas ou implícitas, fundamentam tal pretensão.
O direito deve ainda, acolher o pedido de indenização por dano moral face à ausência do afeto paterno-filial com o intuito de não se permitir que os pais continuem a colocar filhos no mundo sem sequer refletirem sobre os seus principais
deveres. Portanto, o acolhimento de tais pretensões pode mostrar-se como uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre a importância da paternidade, dádiva esta, fundamentada no amor e não no sexo irresponsável.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. 11ª ed. , revisada, atualizada e ampliada de acordo com o código civil de 2002 por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 24.
ANDRADE, Ronaldo Alves de. Dano moral à pessoa e sua valoração. 1.ed. São
Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.
ANGELUCI, Cleber Affonso. Amor tem preço?. Boletim Jurídico, Uberaba, ano 4, n.178.Disponível em:
Acesso em 25 mar. 2012.
BAHENA, Marcos. Investigação de paternidade. Leme: Imperium, 2006.
BARROS, Fernanda Otoni de. Do direito do pai. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2005.
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de
filho: paternidade sócio afetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.
BOSCARO, Marcio Antônio. Direito de filiação. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 2004. 1 v.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
BRASIL. Código Civil (2002). Código civil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm> Acesso em 01 out. 2011.
BRASIL. Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a qual entrou em vigor internacional em 02 de setembro de 1990, na forma de seu artigo 49, inciso 1; Considerando que o Governo brasileiro ratificou a referida Convenção em 24 de setembro de 1990, tendo a mesma entrado em vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990, na forma do seu artigo 49, inciso 2. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/crianca.htm> Aceso em: 02 de out. 2011.
CIA, Fabiana – Um programa para aprimorar envolvimento paterno: impactos no desenvolvendo do filho. Centro de Educação e Ciências Humanas. 2009. 252f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos,
COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. Armed, Porto Alegre, v.3, p.113-128,2004.
COMEL, Nelsina Elizena Damo. Paternidade responsável: o papel do pai na sociedade brasileira e na educação familiar. 1. ed. Curitiba:Juruá, 1999-2001.
CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA: 1.,1997. Out.25-10, BELO HORIZONTE, MG. Repensando o direito de família: anais do I Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 1999.
CONSULTOR JURÍDICO. Pai é condenado a indenizar filha em R$ 50 mil por abandono. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-jun-23/justica_paulista_condena_pai_indenizar_filha_abandono> Acesso em: 30 set. 2011.
CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos conflitos & direito de família.
Curitiba: Juruá, 2003.
CARBONE, Angelo. Abandono afetivo: Justiça não pode obrigar o pai a amar o filho. Revista Consultor Jurídico, s.l., 25 dez. 2005. Disponível em:
. Acesso em 03 marl. 2012.
CAVALALIERI FILHO, Sérgio . Programa Responsabilidade Civil. 8ª ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Atlas, 2009.
CEMIR, Campêlo. Pai que conheceu a filha com 15 anos quer indenização.
Pailegal.net, s.l., 2001. Disponível em:
. Acesso em 03 mar.2012.
CEMIR, Campêlo. Alegação de abandono afetivo não enseja indenização por dano moral. Pailegal.net, s.l., [2003]. Disponível em:
. Acesso em 04 mar. 2012.
CEMIR, Campêlo. Pai é condenado a indenizar filho por abandono. Pailegal.net,
s.l., 11 jun. 2004. Disponível em:
901029589>. Acesso em 04 mar. 2012
.
CIANCI, Mirna. O valor da reparação moral. São Paulo: Saraiva, 2003.
COMEL, Nelsina Elizena Damo. Paternidade responsável: o papel do pai na
sociedade brasileira e na educação familiar. 1. ed. Curitiba: Juruá, 1999-2001.
CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA: 1., 1997 out. 25-10, BELO
HORIZONTE, MG. Repensando o direito de família : anais do I Congresso
Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 1999.
CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 4. 2003. Belo Horizonte,
MG. Afeto, ética, família e o novo Código civil brasileiro : anais do IV Congresso
Brasileiro de Direito de Família, realizado em Belo Horizonte, de 24 a 27 de
setembro de 2003. Belo Horizonte: Instituto Brasileiro de Direito de Família: Del Rey,
2004.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 20.ed. , rev. e atual., v.5, São Paulo: Saraiva, 2005.
DANTAS, Cristina; JABLONSKI, Bernardo; FÉRES-CARNEIRO, Terezinha.
Paternidade : considerações sobre a relação pais-filhos após a separação conjugal.
Universidade de São Paulo, [2004]. Disponível em:
. Acesso em 29 fev. 2012.
DELGADO, Rodrigo Mendes. O valor do dano moral : como chegar até ele : teoria
e prática. Leme, SP: J. H. Mizuno, 2003.
DIAS, Maria Luiza. Vivendo em familia : relações de afeto e conflito. São Paulo:
Moderna, 1992.
DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed., rev. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5.ed. rev. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2009.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva,
1989-1993. v. 2, 5, 6, 7
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro : direito de família. 20. ed.,
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 5
______. Direito de família e o novo código civil. 2. ed., rev., atual. e ampl. Belo
Horizonte: Del Rey, 2002.
DURIGAN, Paulo. Danos morais de pai por abandono afetivo de filho. A Priori,
s.l., 30 mar. 2005. Disponível em:
. Acesso em 29 fev.2012.
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais : elementos
teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
ESTATUTO da criança e do adolescente comentado: comentários jurídicos e
sociais. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002.
FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida.
Porto Alegre: Fabris, 1992.
FARIA JUNIOR, Adolpho Paiva. Reparação civil do dano moral. São Paulo: Ed.
Juarez de Oliveira, 2003.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
HERKENHOFF, Henrique Geaquinto, Direito Civil em sua expressão mais simples – Del Rey, Belo Horizonte, p.190-191, 2005.
HIRONAKA, Gisele Maria Fernandes Novaes. Aspectos jurídicos da relação paterno – Filial. Carta Forense, São Paulo, ano III, n.22, p.3, mar. 2005.
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. Ap. 408.550-5. Rel.Unias Silva. Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=2&comrCodigo=0&ano=0&txt_processo=408550&complemento=0&sequencial=0&palavrasConsulta=408.550-5%2520&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=>. Acesso em: 30 de set. 2011.
MORAES, José Geraldo de – A indisciplina, agressividade e violência como entes da exclusão escolar a luz da análise de caso concreto. 2009. Monografia (Conclusão do curso de pós – graduação) Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira, Fundação Helena Antipoff, Ibirité.
NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói : o reconhecimento
do afeto como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001.
NUNES, Rizzatto. O dano moral e sua interpretação jurisprudencial. São Paulo:
Saraiva, 1999.
NUNES, Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: Doutrina e Jurisprudência. Editora Saraiva, São Paulo, p.37, 2002.
PEREIRA, Heloisa Prado. Imagem do menor e o dano moral : uma visão lus brasileira. Dracena: Reges, 2006.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 11. ed., rev e atual. Rio
de Janeiro: Forense, 1997-2003. v. 5, 6
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições do Direito Civil. 1 ed. Editora Forense, São Paulo, 2009.
Pelegrina, S., García-Linares, M. C. & Casanova, P. F. (2003). Adolescents and their parents’ perceptions about parenting characteristics. Who can better predict the adolescent’s academic competence? Journal of Adolescence, 26, 651-665.
PROMENINO. Declaração universal dos direitos da criança. Disponível em: <http://www.promenino.org.br/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/ConteudoId/389cad15-8993-4900-ba1f-c70d82c091a5/Default.aspx>. Acesso em: 20 out.2011.
QUEIROZ, Juliane Fernandes. Paternidade – Aspectos Jurídicos e Técnicos e Inseminação Artificial. 1 ed. Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2001.
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. Editora Forense, 4 ed., Rio de Janeiro, p.29-30, p.691-692, 2004.
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. Editora Saraiva. 3 ed., São Paulo, 2003.
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo: 01.36747-0. Juiz Luiz Fernando Cirilo. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8724> Acesso em: 30 de set. 2011.
SACCHETTO, Karen Kaufmann. A importância do pai. Guia do bebê UOL, [s.I.],
[200-?]. Disponível em:
. Acesso em 5
Jan. 2012.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais
na Constituição Federal de 1988. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2002.
SERPA LOPES, Miguel Mário de. Curso de Direito Civil. 8º ed, VI. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996.
STJ Condena pai por abandonar filha. http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2012/05/02/interna_nacional,292092/justica-condena-pai-por-abandono-afetivo.shtml
acesso dia 10/05/2012 às 08h13mim
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. Editora Atlas, 5.ed., São Paulo, v.6, 2006.
VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros,
1997.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1996. v. 1
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil : direito de família. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2005. v. 6
Vizzotto, M. M. (1988). Ausência paterna e rendimento escolar. Dissertação de Mestrado, Campinas: PUCCAMP.
STOCCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: RT, 2001.
APÊNDICE A- Instrumento de Diagnóstico - Anamnese
- Dados Pessoais
Nome da Criança: ___________________________________
Data de Nascimento: _______ Idade: _____ Sexo: __________
Filiação:
Mãe:__________________________________________
Pai: __________________________________________
Profissão/Escolarização
Mãe: __________________________________________
Pai: ___________________________________________
- Grupo familiar
Nome
Parentesco
Idade
- Onde mora: Casa própria ou aluguel
3. História pregressa da criança e relações familiares e sociais
4- Questionário
1- A gravidez foi planejada?
2- Se não foi planejada, como foi a aceitação da mesma pelo pai?
3- Durante a gestação teve acompanhamento médico?
4- Teve algum problema de saúde, complicações durante a gestação?
5- Caso teve algum problema o pai da criança a auxiliou?
6- Durante a gestação apresentou quadro depressivo?
7- Como foi o parto?
8- O pai esteve presente no momento do parto?
9- O pai fez o registro civil da criança dentro do prazo legal?
10- A mãe teve depressão pós parto?
11- Amamentou a criança? Até quando?
12- Quando a criança falou?
13- Quando a criança andou?
14- O pai esteve presente nestes momentos?
15-Percebeu na criança alguma ausência de respostas aos estímulos?
16- Há algum diagnóstico clinico?
17- Quando nas visitas ao médico o pai estava presente?
18- Quem fez a matrícula da criança na escola?
19- Quem leva a criança à escola?
20- O pai participa das atividades escolares da criança?
21-- Nas reuniões, quem vai à escola?
22- Quem repreende a criança em virtude das baixas notas?
23-Quem premia a criança em virtude das altas notas?
24- Quem participou das formaturas da criança?
25- Como é o ambiente familiar, harmonioso ou há muitos conflitos?
26- Qual o grau de dependência da criança para realizar as tarefas cotidianas?
27- Qual o grau de independência da criança para realizar as tarefas cotidianas?
28- Você acredita que a ausência do pai foi positiva ou negativa no desenvolvimento da criança?
29- Hoje já adolescente, seu filho tem vontade de ter contato com o pai?
30- O pai demonstra interesse em interagir com o filho?
APÊNDICE B- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS
ANEXO A – Acórdão proferido pela 7ª Câmara Civil do Tribunal de Alçada do estado de Minas Gerais. Apelação Cível nº 408.550-5, de 01.04.2004. Apelante Alexandre Batista Fortes. Apelado: Vicente de Paulo Ferro de Oliveira.
Acórdão proferido pela 7ª Câmara Civil do Tribunal de Alçada do estado de Minas Gerais. Apelação Cível nº 408.550-5, de 01.04.2004. Apelante Alexandre Batista Fortes. Apelado: Vicente de Paulo Ferro de Oliveira. Relator: Juiz Unias Silva.
EMENTA – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO
PATERNO-FILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE.
A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 408.550-5 da Comarca de BELO HORIZONTE, sendo Apelante (s): ALEXANDRE BATISTA FORTES MENOR PÚBERE ASSIST. P/ SUA MÃE e Apelado (a) (os) (as): VICENTE DE PAULO FERRO DE OLIVEIRA, ACORDA, em Turma, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO. Presidiu o julgamento o Juiz JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES e dele participaram os Juízes UNIAS SILVA (Relator), D. VIÇOSO RODRIGUES (Revisor) e JOSÉ FLÁVIO ALMEIDA (Vogal). O voto proferido pelo Juiz Relator foi acompanhado, na íntegra, pelos demais componentes da Turma Julgadora. Assistiu ao julgamento pelo apelante, a Drª. Thais Câmara Maia e Produziu sustentação oral pelo apelado, o Dr. João Bosco Kumaira. Belo Horizonte, 01 de abril de 2004. JUIZ UNIAS SILVA - Relator
V O T O
O SR. JUIZ UNIAS SILVA:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre Batista Fortes – menor púbere representado por sua mãe – contra a r. sentença que, nos autos da ação de
indenização por danos morais ajuizada contra seu pai, Vicente de Paulo Ferro de Oliveira, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que inexistente o nexo causal entre o afastamento paterno e o desenvolvimento de sintomas psicopatológicos pelo autor. Sustenta o apelante, em síntese, que o conjunto probatório presente nos autos é uníssimo ao afirmar a existência do dano resultante da ofensa causada pelo apelado. Afirma que a dor sofrida pelo abandono é profundamente maior que a irresignação quanto ao pedido revisional de alimentos requerido pelo pai. Aduz que o tratamento psicológico ao qual se submete há mais de dez anos advém da desestruturação causada pelo abandono paterno.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
Contra-razões às fls. 105-407.
É o relatório necessário.
Conheço do recurso, pois que presentes os pressupostos de sua admissão. A relação paterno-filial em conjugação com a responsabilidade possui fundamento naturalmente jurídico, mas essencialmente justo, de se buscar compensação indenizatória em face de danos que pais possam causar a seus filhos, por força de uma conduta imprópria, especialmente quando a eles é negada a convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a referência paterna ou materna concretas, acarretando a violação de direitos próprios da personalidade humana, magoando seus mais sublimes valores e garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social, o que, por si só, é profundamente grave. Esclareço, desde já, que a responsabilidade em comento deve cingir-se à civil e, sob este aspecto, deve decorrer dos laços familiares que matizam a relação paterno-filial, levando-se em consideração os conceitos da urgência da reparação do dano, da reharmonização patrimonial da vítima, do interesse jurídico desta, sempre prevalente, mesmo à face de circunstâncias danosas oriundas de atos dos juridicamente inimputáveis. No seio da família da contemporaneidade desenvolveu-se uma relação que se encontra deslocada para a afetividade. Nas concepções mais recentes de família, os pais de família têm certos deveres que independem do seu arbítrio, porque agora quem os determina é o Estado.
Assim, a família não deve mais ser entendida como uma relação de poder, ou de dominação, mas como uma relação afetiva, o que significa dar a devida atenção às necessidades manifestas pelos filhos em termos, justamente, de afeto e proteção. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não somente do sangue. No estágio em que se encontram as relações familiares e o desenvolvimento científico, tende-se a encontrar a harmonização entre o direito de personalidade ao conhecimento da origem genética, até como necessidade de concretização do direito à saúde e prevenção de doenças, e o direito à relação de parentesco, fundado no princípio jurídico da afetividade. O princípio da efetividade especializa, no campo das relações familiares, o macro princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal), que preside todas as relações jurídicas e submete o ordenamento jurídico nacional. No estágio atual, o equilíbrio do privado e do público pauta-se exatamente na garantia do pleno desenvolvimento da dignidade das pessoas humanas que integram a comunidade familiar. No que respeita à dignidade da pessoa da criança, o artigo 227 da Constituição expressa essa concepção, ao estabelecer que é dever da família assegurar-lhe "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", além de colocá-la "à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". Não é um direito oponível apenas ao Estado, à sociedade ou a estranhos, mas a cada membro da própria família.
Assim, depreende-se que a responsabilidade não se pauta tão-somente no dever alimentar, mas se insere no dever de possibilitar o desenvolvimento humano dos filhos, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. No caso em comento, vê-se claramente, da cuidadosa análise dos autos, que o apelante foi, de fato, privado do convívio familiar com seu pai, ora apelado. Até os seis anos de idade, Alexandre Batista Fortes, ora apelante, manteve contato com seu pai de maneira razoavelmente regular. Após o nascimento de sua irmã, a qual ainda não conhece, fruto de novo relacionamento conjugal de seu pai, este afastou-se definitivamente. Em torno de quinze anos de afastamento, todas as tentativas de aproximação efetivadas pelo apelante restaram-se infrutíferas, não podendo desfrutar da companhia e dedicação de seu pai, já que este não compareceu até mesmo em datas importantes, como aniversários e formatura. De acordo com o estudo psicológico realizado nos autos, constata-se que o afastamento entre pai e filho transformou-se em uma questão psíquica de difícil elaboração para Alexandre, interferindo nos fatores psicológicos que compõem sua própria identidade. “É como se ele tentasse transformar o genitor em pai e, nesta árida batalha, procurasse persistentemente compreender porque o Sr. Vicente não se posiciona como um pai, mantendo a expectativa de que ele venha a fazê-lo.” (fls. 72). “Neste contexto, ainda que pese o sentimento de desamparo do autor em relação ao lado paterno, e o sofrimento decorrente, resta a Alexandre, para além da indenização material pleiteada, a esperança de que o genitor se sensibilize e venha a atender suas carências e necessidades afetivas.” (fls.74). Assim, ao meu entendimento, encontra-se configurado nos autos o dano sofrido pelo autor, em relação à sua dignidade, a conduta ilícita praticada pelo réu, ao deixar de cumprir seu dever familiar de convívio e educação, a fim de, através da afetividade, formar laço paternal com seu filho, e o nexo causal entre ambos.
Desta forma, fixo a indenização por danos morais no valor equivalente a duzentos salários mínimos, ou seja, R$ 44.000,00, devendo ser atualizado monetariamente de acordo com a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça e com juros de mora em 1% ao mês, a contar da publicação do presente acórdão. Pelo que, condeno o apelado a pagar ao procurador do apelante, a título de honorários sucumbenciais, o valor relativo a 10% do valor da condenação em danos morais.
Com base em tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar procedente o pedido inicial, modificando a r. decisão ora objurgada. Custas pelo apelado.
ANEXO B – Sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Capão da Canoa/RS. Processo Cível nº 141/1030012032-0, de 15.09.2003. Autora: Daniela
Josefino Afonso. Réu: Daniel Viriato Afonso.
Sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Capão da Canoa/RS. Processo Cível nº 141/1030012032-0, de 15.09.2003. Autora: Daniela Josefino Afonso. Réu: Daniel Viriato Afonso. Juiz: Mário Romano Magggioni. Vistos.
I - Daniela Josefino Afonso ajuizou ação de indenização por danos morais contra Daniel Viriato Afonso, inicialmente qualificados. Referiu, em suma, que é filha do demandado. Desde o nascimento da autora, o pai abandonou-a material (alimentos) e psicologicamente (afeto, carinho, amor). Houve ação de alimentos e diversas execuções. Em ação revisional, o demandado avençou pagar R$ 720,00 mensais e assumir o papel de pai. Novamente não honrou com o avençado, não demonstrando qualquer amor pela filha. Tal abandono tem trazido graves prejuízos à moral da autora. Requereu pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Citado (fl. 27), o demandado restou silente. O Ministério manifestou-se pela extinção (fls. 29-33). Vieram os autos conclusos. Relatados. Decido. II - A questão comporta o julgamento do processo no estado em que se encontra. Trata-se de revelia (art. 330, II, do Código de Processo Civil). Citado, o requerido não contestou a ação. Presumem-se, assim, verdadeiros os fatos afirmados pela autora (art. 319, Código de Processo Civil). De se salientar que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos (art. 22 da Lei nº 8.069/90). A educação abrange não somente a escolaridade, mas também a convivência familiar, o afeto, amor, carinho, ir ao parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para que a criança se auto-afirme. Desnecessário discorrer acerca da importância da presença do pai no desenvolvimento da criança. A ausência, o descaso e a rejeição do pai em relação ao filho recém-nascido ou em desenvolvimento violam a sua honra e a sua imagem. Basta atentar para os jovens drogados e ver-se-á que grande parte deles derivam de pais que não lhe dedicam amor e carinho; assim também em relação aos criminosos. De outra parte, se a inclusão no SPC dá margem à indenização por danos morais, pois viola a honra e a imagem, quanto mais a rejeição do pai. É menos aviltante, com certeza, ao ser humano dizer “fui indevidamente incluído no SPC” a dizer “fui indevidamente rejeitado por meu pai”. Nessa senda, não se apresenta absurdo o valor inicialmente pretendido. Acresço que não houve impugnação ao valor, presumindo-o bom. Por óbvio que o Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a ser pai. No entanto, aquele que optou por ser pai – e é o caso do autor – deve se desincumbir da sua função, sob pena de reparar os danos causados aos filhos. Nunca é demais salientar os inúmeros recursos para se evitar a paternidade (vasectomia, preservativos etc). Ou seja, aquele que não quer ser pai deve se precaver. Não se pode atribuir a terceiros a paternidade. Aquele, desprecavido, que deu origem ao filho deve assumir a função paterna não apenas no plano ideal, mas legalmente. Assim, não estamos diante de amores platônicos, mas sim de amor indispensável ao desenvolvimento da criança. A função paterna abrange amar os filhos. Portanto, não basta ser pai biológico ou prestar alimentos ao filho. O sustento é apenas uma das parcelas da paternidade. É preciso ser pai na amplitude legal (sustento, guarda, educação). Quando o legislador atribui aos pais a
função de educar os filhos, resta evidente que aos pais incumbe amar os filhos. Pai que não ama filho está não apenas desrespeitando função de ordem moral, mas principalmente de ordem legal, pois não está bem educando seu filho. O demandado não contestou; portanto, presume-se que não está ensejando boa educação (amor, carinho, companhia etc.) à filha. A ausência de alimentos poder-se-á suprir mediante execução de alimentos. Os prejuízos à imagem e à honra da autora, embora de difícil reparação e quantificação, podem ser objetos de reparação ao menos parcial. Uma indenização de ordem material não reparará, na totalidade, o mal que a ausência do pai vem causando à filha; no entanto, amenizará a dor desta e, talvez, propiciar-lhe-á condições de buscar auxílio psicológico e confortos outros para compensar a falta do pai. E, quanto ao demandado, o pagamento de valor pecuniário será medida profilática, pois fa-lo-á repensar sua função paterna ou, ao menos, se não quiser assumir o papel de pai que evite ter filhos no futuro. III - Face ao exposto, julgo procedente a ação de indenização proposta por Daniela Josefino Afonso contra Daniel Viriato Afonso, forte no art. 330, II, e art.269, I, do Código de Processo Civil, combinados com art. 5º, X, da constituição Federal e o art. 22 da Lei nº 8.069/90 para condenar o demandado ao pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), corrigidos e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. Condeno o demandado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversas que arbitro e, 10 sobre o valor da condenação a teor do art. 20, § 3º, do Código do Processo Civil, ponderado o valor da causa e ausência de contestação. Transitada em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Capão da Canoa (RS), 15 de setembro de 2003.
MARIO ROMANO MAGGIONI – Juiz de Direito
ANEXO C – Sentença proferida pela 31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP. Processo Cível nº 01.036747-0, de 05.06.2004. Autor: Melka Madjar. Réu: Maurício Madjar.
Sentença proferida pela 31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.
Processo Cível nº 01.036747-0, de 05.06.2004. Autor: Melka Madjar. Réu: Maurício
Madjar. Juiz: Luis Fernando Cirilo.
Vistos.
MELKA MADJAR ajuizou ação contra MAURÍCIO MADJAR, alegando que: é filha do réu, que abandonou o lar do casal formado por ele e pela mãe da autora alguns meses após o nascimento da requerente; a partir de então o réu passou a negligenciar a existência da autora, causando sérios danos psicológicos à requerente; pouco depois de se separar da mãe da autora o réu constituiu nova família, de onde advieram três filhos; por serem todos membros da colônia judaica desta Capital, eram constantes os encontros da autora com seus irmãos e com o réu, que no entanto nem dirige a palavra à autora, fingindo não conhece-la, como se dela se envergonhasse, ao mesmo tempo em que trata os outros filhos com ternura, na presença da autora; assim, durante anos a autora se sentiu rejeitada e humilhada perante a colônia israelita, estigmatizada dentre seus pares, crescendo envergonhada, tímida e embaraçada, com complexos de culpa e inferioridade; a autora sofre de problemas psicológicos, que lhe trazem prejuízos nos campos profissional e afetivo, além de despesas com psicólogos, médicos e medicamentos. Pelo exposto, requereu a autora a condenação do réu ao pagamento de todos os valores despendidos pela autora, até o trânsito em julgado da sentença, para o tratamento dos transtornos causados pela rejeição e abandono praticados pelo réu, bem como ao pagamento das despesas para continuidade do tratamento, além da condenação do réu ao pagamento de indenização do dano moral. O réu foi citado e apresentou contestação, com preliminares e pedido de improcedência de demanda.
Houve réplica. Realizou-se audiência preliminar, sem conciliação, e o feito foi saneado, com rejeição das preliminares articuladas na contestação, fixação dos pontos controvertidos e deferimento da produção de provas testemunhais e parcial. Foram ouvidas a autora em depoimento pessoal e cinco testemunhas. Juntado aos autos o laudo psicológico, sobrevieram pareceres dos assistentes técnicos das partes. Indeferidas as demais diligências pleiteadas pelo réu, foi encerrada a instrução, e as partes apresentaram memoriais de alegações finais.
É o relatório.
Segue a fundamentação.
Examinada em suas linhas gerais, a presente demanda pode se afigurar. Inclusive sob um ponto de vista sensato, carente de fundamento. Efetivamente, em princípio não se afigura razoável que um filho pleiteie em Juízo indenização do moral porque não teria recebido afeto de seu pai, de quem sua mãe se separou ainda na infância do autor. Afiguram- se desde logo problemáticos aspectos imprescindíveis ao reconhecimento da procedência de tal pretensão, tais como a tradução monetária de sentimentos e a própria noção do afeto como algo obrigatório. Mas o exame da questão em suas linhas gerais não fornece uma resposta satisfatória. A indenização do dano moral é sempre o sucedâneo de algo que a rigor não tem valor patrimonial, inclusive e notadamente porque o valor do bem ofendido não se compra com dinheiro. Não se pode rejeitar a possibilidade de pagamento de indenização do dano
decorrente da falta de afeto simplesmente pela consideração de que o verdadeiro afeto não tem preço, porque também não tem sentido sustentar que a vida de um ente querido, a honra e a imagem e a dignidade de um ser humano tenham preço, e nem por isso se nega o direito à obtenção de um benefício econômico em contraposição à ofensa praticada contra esses bens. A paternidade provoca o surgimento de deveres. Examinando-se o Código Civil vigente a época dos atos, verifica-se que a lei atribuía aos pais o dever de direção de criação e educação dos filhos, e de tê-los não somente sob sua guarda, mas também sob sua companhia (art.384, I e II). Há, portanto, fundamento estritamente normativo para que se conclua que a paternidade não gera apenas deveres de assistência material, e que além da guarda, portanto independentemente dela, existe um dever, a cargo do pai, de ter o filho em sua companhia. Além disso, o abandono era previsto como perda do pátrio poder (art. 395, II), sendo cediço que não se pode restringir a figura do abandono apenas à dimensão material. Regras no mesmo sentido estão presentes também no Código Civil vigente(arts. 1634, I e II e 1638, II). É certo que o Código Civil em vigor explicita ser lícito o exercício exclusivo do agora denominado poder familiar por um dos pais, se não existir casamento (art.1631), a ponto de prever expressamente a perda do direito dos pais de ter os filhos em sua companhia na hipótese de separação judicial (art. 1632). Mas a perda do direito à companhia não é
absoluta, uma vez que o art. 1589 da mesma lei prevê direito de visita, companhia e de fiscalização da manutenção e educação do filho em favor do pai ou da mãe que não detém a guarda. Vê-se, que não há fundamento jurídico para se concluir, primeiro, que não haja dever do pai de estabelecer um mínimo de relacionamento afetivo com seu filho, e em segundo lugar que o simples fato de separação entre pai e mãe seja fundamento para que dispense quem não fica com a guarda do filho de manter esse relacionamento. A par da ofensa à integridade física (e psíquica) decorrente de um crescimento desprovido do afetivo paterno, o abandono afetivo se apresenta também como ofensa à dignidade da pessoa humana, bem jurídico que a indenização de dano moral se destina a tutelar. É evidente que a separação dos pais não permitirá a quem não detém a guarda o estabelecimento de convivência freqüente, ou mesmo intensa. Por este motivo é que efetivamente não se mostra razoável, em princípio e em linhas gerais, considerar que todo pai ou mãe que se separa e deixa o filho com outro genitor deva pagar ao filho indenização de dano moral. Mas nem por isso se poderá ir ao outro extremo e negar a ocorrência de dano
moral se o pai ou a mãe, tendo condições matérias e intelectuais, se abstém completamente de estabelecer relacionamento afetivo ou de convivência, ainda que mínimo, com seu filho, como se houvesse um vinculo de parentesco, que no âmbito jurídico se expressa também como companhia, transcendendo assim a dimensão estritamente material. Portanto, a decisão da demanda depende necessariamente do exame das circunstâncias do caso concreto, para que se verifique, primeiro, se o réu teve efetivamente condições de estabelecer relacionamento afetivo maior do que a relação que afinal se estabeleceu, e em segundo lugar se as vicissitudes do relacionamento entre as partes efetivamente provocaram dano relevante à autora. A prova testemunhal produzida a pedido do próprio réu produz um quadro em que se percebe que ao longo do tempo houve uma opção inequívoca do réu em abstrair, notadamente na dimensão afetiva sua condição de pai da autora. Segundo a testemunha Marcelo o contato entre as partes foi rareando com o passar do tempo, mas o depoente só ouviu relatos de dificuldades impostas pela mãe da autora ao acesso do pai à filha quando a requerente era muito pequena, não havendo dificuldades desse tipo a partir dos 5 ou 6 anos de idade da autora (fls. 97). Conforme asseverou esta testemunha, o ré lamentava os problemas que cercavam seu acesso à filha, mas não tomava atitudes concretas para reverter a situação. É certo que a testemunha Elisabete declarou em Juízo ter ouvido dizer que a mãe da autora não deixava que o réu a visse, e ter ouvido do réu a afirmação de que ele era
proibido pela mãe da autora de ter contato com a filha (fls. 99). Mas a complementação da resposta que o réu deu à pergunta da testemunha da autora, de que ele afinal já sabia o que a mãe e a filha queriam dele, vidência que na verdade mais do que eventuais obstáculos proveniente de comportamento da autora o que explica a falta de relacionamento afetivo entre as partes é a visão que o autor tem da filha, como alguém que, juntamente com a ex-esposa, é apenas fonte de aborrecimentos, demandas financeiras ou qualquer outra demanda que, em qualquer caso, não seria merecedora de atenção e atendimento. Em outras palavras, os eventuais obstáculos impostos inicialmente ao contato com a filha foram afinal uma boa desculpa para que ao longo o réu encontrasse justificativa par ignorar a autora, assim se livrasse de um relacionamento que, a seus olhos, só poderia resultar em aborrecimentos ou despesas. Expressiva, nesse sentido, é a preocupação do réu em apresentar comprovantes de depósito (fls. 114/151), num evidente demonstração de que no seu entendimento está sujeito apenas a um dever de assistência material. Embora tenha sido fixado um dos pontos controvertidos se a exclusão paulatina do réu do convívio com a autora foi causada por atitudes da mãe da requerente, finda a instrução da causa não se produziu provas de que o abandono afetivo da autora tenha sido consequência de um comportamento permanente e deliberado da mãe da autora, destinado a impedir o acesso do pai à filha. Se a mãe da autora tumultuou, dificultou ou até mesmo impediu o acesso do autor a ré, só a notícia de que isso tem acontecido logo após a separação dos pais da autora. Aconteceu no caso dos autos, portanto, o que acontece em grande parte
das separações de casais com filhos. Nem por isso se pode considerar que os atritos corriqueiros nas separações conjugais recentes justifiquem que pelo resto da vida um pai se considere desobrigado de manter qualquer relação afetiva com o seu filho. O laudo da perita judicial apresenta, na parte em que trata do relato do réu,
elementos de convicção que reforçam as conclusões hauridas da prova testemunhal. Segundo se depreende desse relato, as dificuldades inicias para o acesso à filha foram suficientes para que o réu se desinteressasse de manter relacionamento com a autora, a ponto de se esquecer da filha, focando toda a sua realização como pai nos outros filhos. A perita constatou também a contraposição das duas figuras paternas existentes na vida da autora. De um lado o réu rejeita a sua condição de pai ao argumento de que o pai é quem cria. De outro lado o segundo marido da mãe da autora também rejeita assumir o papel de pai da requerente, com o argumento, de que o verdadeiro pai dela é o réu. Tem-se, portanto e desde logo, um fator de relevância suficiente para o apoio a tese de que a autora sofre, no plano psicológico-afetivo, a falta de uma figura paterna, pois nenhum dos chamados a exercer esta função a aceita ou a desempenha completamente. Ademais, a análise da personalidade da autora constatou falta de definição de referenciais e padrões sociais familiares, distorções na expressão de afetos que resultam em explosões afetivas, desorganização interna e instabilidade emocional, comportamentos impulsivos e imprevisíveis, angustias e comportamento social superficial. Verificou-se também na autora ansiedade e percepção de hostilidades do meio para com ela própria. A autora demonstra compreensão incompleta da própria identidade integrada ao seu conjunto de sentimentos, bem como demonstra não ter compreensão adequada de sua rede de significados emocionais. Apresenta comportamento agressivo na tentativa de garantir para si a crença na própria autonomia e força perante o seu grupo social. A autora não tem clareza sobre a sua identidade e tem uma imagem depreciativa de si; usa agressividade como defesa e tem grande necessidade de afeto do meio, pr compensar o desenvolvimento insuficiente de sua independência; apresenta-se confusa, dependente e com tendência de manter vínculo simbiótico. A perita judicial concluiu que a autora apresenta conflitos, dentre os quais o de identidade, deflagrados pela rejeição do pai (situação de abandono), uma vez que o réu não demonstra afeto pela autora nem interesse pelo seu estado emocional, focando sua relação com o requerente apenas na dimensão financeira, a ponto de considerar normal ter se esquecido da filha. A autora não teve possibilidades de conviver com uma figura paterna que se relacionasse com ela de forma completa, defrontada com a situação de ser formalmente filha do réu ao mesmo tempo em que tentava vivenciar uma relação pai/filho com o segundo marido de sua mãe. Seu referencial familiar se caracterizou por comportamentos incoerentes e ambíguos, disso resultado angústia, tristeza e carência efetiva, que atrapalham seu desenvolvimento profissional e relacionamento social. As críticas ao laudo pericial formuladas pelo réu não abalam os elementos de convicção acima apontados, que amparam a conclusão de que autora sofreu dano moral imputável ao requerido. Nem mesmo o parecer assistente técnica do requerido evidenciou impropriedade do teste psicológico Perita judicial. Ao contrário do que argumenta o requerido, avulta o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo do réu e os problemas de ordem psicológica aprestados pela autora. Por outro lado, nada indica que a alegação de dano moral decorra de mera indução promovida pela mãe da requerente. Não se sustenta nem mesmo à luz da Psicologia a tese de que os demais laços familiares mantidos pela sejam aptos a interferir nas consequência da omissão do réu em relação à autora, seria o mesmo que sustentar a irrelevância psicológica da ausência da figura paterna só porque há outras figuras familiares atuantes. Já se assinalou não existir demonstração de que o réu ficou impossibilitado de manter contato da autora por algum fator invencível de responsabilidade de terceiros. O que se evidência é que o réu se apegou já às primeiras dificuldades como pretextos para justificar seu desinteresse pela autora. Não há, assim, fundamento para se concluir que, a despeito de algum intenção ou esforço do réu, tenha havido boicote ou impedimento invencível ao desempenho pelo requerido de seu dever exercer seu papel de pai da autora. Tampouco se pode acolher a conclusão de que eventuais sentimentos depreciativos hoje vivenciados pela autora em relação ao réu sejam consequências de “programação” da mãe da requerente muito menos que não haja justificativa, uma vez que o próprio réu admite ter se esquecido da autora e não se considerar seu pai. O dado técnico de que anos de tentativas frustradas de aproximação e de convivência usualmente levam ao desinteresse do genitor que não permanece vivendo sob o mesmo teto em que está o filho não se aplica ao caso dos autos. Isso porque a prova coligida nos autos, notadamente a prova testemunhal produzida a pedido do próprio requerido, permite concluir que no caso do réu não houve o menor interesse em reverter as dificuldades normais de relacionamento que se seguem à separação de um casal. O fato de o réu ter bom relacionamento com os filhos de seu segundo casamento não é suficiente para que se conclua que o afastamento entre as partes só se deu por culpa alheia ao requerido. Primeiro, porque não é incompatível com a explicação de que o réu ao se separar de sua segunda esposa, simplesmente quis e se esforçou em manter seu relacionamento dessa união, o que reforça a reprovabilidade de sua opção de não tratar sua outra filha da mesma forma. Em segundo lugar, porque o tempo de relacionamento do réu
com esses filhos mais novos até a separação é fator suficiente para alterar bastante a situação, sem que com isso se possa relevar a omissão do requerido para com a autora, pois a requerente não pode ser punida pelo fato de não ter convivido tanto tempo com seu pai antes da separação de seus genitores. Não há nos autos fundamentos para o pressuposto adotado pela técnica da ré, de que a mãe da autora sempre dificultou os encontros entre as partes, boicotando sistematicamente o réu. Pelo contrário, a prova testemunhal apresenta um quadro em que dificuldades, se ocorreram, se deram apenas logo depois da separação dos genitores da autora, com o que a conclusão que exsurge de que afinal o réu abandonou a autora porque quis, a pretexto de que no começo a convivência não foi fácil. Também não se pode acolher a conclusão de que a figura paterna que influenciou a personalidade da autora foi o segundo marido da mãe. A prova testemunhal e a prova pericial apontam, pelo contrário, condutas imputáveis ao réu e problemas psicológicos motivados pela atitude o do requerido, e não de outras pessoas que conviveram com a autora. É cerro que a melhor e verdadeira solução de problemas psicológicos é a proporcionada pelo psicólogo, e não pelo juiz. Mas nem por isso juiz pode deixar de prestar a tutela jurisdicional que lhe é requerida. Não se pode negar, no caso doa autos, a condenação do réu ao pagamento de prestação pecuniária, sob pena de se negar também a possibilidade de reparação do dano moral decorrente da perda de u ente querido, ou do abalo à honra ou a imagem, pois também vai contra a dignidade humana colocar preço na vida de um ente querido ou na própria honra ou imagem. Não procede o argumento de que a afirmação de que a autora foi rejeitada pelo réu se funda exclusivamente nas alegações da autora, pessoa cuja capacidade de avaliação e julgamento da realidade está comprometida, e de sua mãe. Nenhum dos elementos de convicção até agora apresentados para sustentar a conclusão de que o réu abandonou afetivamente a autora foi extraído de alguma declaração da mãe da autora, ao passo de que a assistente técnica do réu, ao que tudo indica, colheu relato apenas do seu cliente. O relacionamento da autora com o segundo marido de sua mãe não foi suficiente para elidir o dano decorrente do fato de que a autora ter sido afetivamente
abandonada pelo réu. Primeiro, porque pessoas nunca são completamente substituíveis, e, ainda que haja pouca ou nenhuma sequela m razão de substituição bem sucedida, a conduta reprovável do substituído naco fia elidida nem absolvida. Em segundo lugar, porque a prova pericial apontou déficit na relação entre a autora e o segundo marido de sua mãe. E evidentemente não se pode imputar ao segundo marido da mãe da autora o inadimplemento de algum dever de afeto. Pelos mesmos motivos, o dever e a responsabilidade da mãe da autora não interfere no julgamento da conduta do pai biológico. A mãe não pode, em última análise nem totalmente, suprir o afeto que deve provir de uma pessoa específica. O laudo pericial explicita as consequências do abandono e não se funda apenas, nem automaticamente, na premissa de que o individuo adulto é consequência (apenas) do que viveu na infância. Como, tampouco, se pode abstrair a influência da infância na personalidade
do adulto, nada há de inadequado no teste aplicada pela perita judicial. Efetivamente, não se pode exigir a realização completa do ideal. Mas as provas coligadas nos autos dão conta de que o réu poderia ter feito muito mais do que fez, e não fez não porque foi impedido pela mãe da autora, e sim porque não quis. Para que o réu seja condenado a indenizar o dano moral por ele causado à autora, não seria necessário que se demonstrasse que o requerido é o único culpado pelos dramas e conflitos atuais da autora, embora afinal não haja prova nenhuma outra explicação para o estado psicológico atual da requerente além do abandono afetivo de que foi vítima por culpa do réu. Basta que se constate, como se constatou, o abandono de responsabilidade do requerido. Os autos não contém apenas demonstração de problemas psicológicos de uma filha. Mostram, também, uma atitude de alheamento de um pai, com o que o réu não está sendo condenado apenas por sua filha tem problemas, e sim porque deliberadamente esqueceu da filha. O réu não foi paulatinamente excluído, contra sua vontade, do convívio da autora, e sim aproveitou as primeiras dificuldades para ter um pretexto para se afastar, voluntariamente, da requerente. Sustentar que o abandono alegado pela autora é mera distorção criada no imaginário da autora por sua mãe frustrada é um argumento que não se sustenta, em face do comportamento do próprio requerido que se extrai destes autos, até porque o réu não fez nenhuma prova de que em “muitas situações” tinha sido impedido, por fatores alheio à sua própria vontade, de manter relacionamento afetivo com a autora. Não procede o pedido de indenização de gastos com o tratamento psicológico até agora realizado, pois, segundo o depoimento da testemunha E., quem paga o tratamento é pessoa que não integra o pólo ativo da demanda (fls.93/94). O laudo pericial demonstra que a necessidade de continuação do tratamento psicológico. A indenização do dano imaterial deve ser fixada por equidade pelo juiz, em atenção às circunstâncias do caso. A quantia de cinquenta mil reais se mostra suficiente para proporcionar à autora um benefício econômico que levante ao mesmo tempo em que inflige ao réu uma perda patrimonial significativa.
ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente a ação, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com atualização monetária a
partir da data desta sentença e juros de mora desde a citação, par reparação do dano moral, e ao custeio do tratamento psicológico à autora, a ser apurado em liquidação. Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da parte liquida da condenação, o que já leva em conta a sucumbência da requerente. P.R.Int.
São Paulo, 5 de junho de 2004.
LUIS FERNADO CIRILLO – Juiz de Direito
ANEXO D – REPORTAGEM PUBLICADA NO SITE DO
JORNAL ESTADO DE MINAS
Justiça condena pai por abandono afetivo
Publicação: 02/05/2012 14:35
Decisão inédita no Superior Tribunal de Justiça (STJ) condena pai a pagar indenização de R$ 200 mil por abandono afetivo. De acordo com a assessoria de imprensa do STJ, a filha, após ter obtido reconhecimento judicial da paternidade, entrou com uma ação contra o pai por ter sofrido abandono material e afetivo durante a infância e adolescência. A autora da ação argumentou que não recebeu os mesmos tratamentos que seus irmãos, filhos de outro casamento do pai.
Na primeira instância o pedido foi julgado improcedente, tendo o juiz entendido que o distanciamento se deveu ao comportamento agressivo da mãe em relação ao pai. Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), reformou a sentença e reconheceu o abandono afetivo. O TJSP condenou o pai a pagar o valor de R$ 415 mil como indenização à filha.
Na primeira instância o pedido foi julgado improcedente, tendo o juiz entendido que o distanciamento se deveu ao comportamento agressivo da mãe em relação ao pai. Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), reformou a sentença e reconheceu o abandono afetivo. O TJSP condenou o pai a pagar o valor de R$ 415 mil como indenização à filha.
Conforme informações do STJ, o pai recorreu da decisão afirmando que a condenação não era aceita em todos os tribunais. O STJ, então, reviu o caso e passou a admitir a condenação por abandono afetivo como um dano moral. A condenação, segundo o STJ, saiu na terça-feira, 24 de abril, e o homem terá que pagar a indenização - que foi reduzida - de R$ 200 mil.
Em entrevista à Rádio CBN, a ministra da Terceira Turma do STJ, Nancy Andrighi, afirmou que os pais têm o dever de "fornecer apoio para a formação psicológica dos filhos". A ministra ressalta, ao longo da entrevista, que a decisão do STJ "analisa os sentimentos das pessoas, são novos caminhos e novos tipos de direitos subjetivos que estão sendo cobrados". "Todo esse contexto resume-se apenas em uma palavra: a humanização da Justiça."
Em entrevista à Rádio CBN, a ministra da Terceira Turma do STJ, Nancy Andrighi, afirmou que os pais têm o dever de "fornecer apoio para a formação psicológica dos filhos". A ministra ressalta, ao longo da entrevista, que a decisão do STJ "analisa os sentimentos das pessoas, são novos caminhos e novos tipos de direitos subjetivos que estão sendo cobrados". "Todo esse contexto resume-se apenas em uma palavra: a humanização da Justiça."
Anexo E – Projeto de Lei 4294/2008
PROJETO DE LEI : 4294 , DE 2008
Acrescenta parágrafo ao artigo 1. 632 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código Civil e ao art. 3° da lei n° 10.741, de 1ª de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso - de modo a estabelecer a indenização por dano moral em razão do abandono afetivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta parágrafo ao artigo 1.632 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e ao art. da lei n° 10.741, de 1 ª de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso -, de modo a estabelecer a indenização por dano moral em razão do abandono afetivo.
Art. 2° O artigo 1.632 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil – passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“ Art. 1632 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Parágrafo único: O abandono afetivo sujeita os pais ao pagamento de indenização por dano moral.(NR)”
Art. 3° O parágrafo único do art. 3° da lei n° 10.7 41, de 1ª de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso - passa a vigorar como parágrafo 1°, devendo ser acrescido o seguinte parágrafo 2° ao ar tigo:
“Art. 3° .------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1°
§ 2° O abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de indenização por dano moral. “
JUSTIFICAÇÃO
O envolvimento familiar não pode ser mais apenas pautado em um parâmetro patrimonialista-individualista. Deve abranger também questões éticas que habitam, ou ao menos deveriam habitar, o consciente e inconsciente de todo ser humano.
Entre as obrigações existentes entre pais e filhos, não há apenas a prestação de auxílio material. Encontra-se também a necessidade de auxílio moral, consistente na prestação de apoio, afeto e atenção mínimas indispensáveis ao adequado desenvolvimento da personalidade dos filhos ou adequado respeito às pessoas de maior idade.
No caso dos filhos menores, o trauma decorrente do abandono afetivo parental implica marcas profundas no comportamento da criança. A espera por alguém que nunca telefona - sequer nas datas mais importantes - o sentimento de rejeição e a revolta causada pela indiferença alheia provocam prejuízos profundos em sua personalidade.
No caso dos idosos, o abandono gera um sentimento de tristeza e solidão, que se reflete basicamente em deficiências funcionais e no agravamento de uma situação de isolamento social mais comum nessa fase da vida. A falta de intimidade compartilhada e a pobreza de afetos e de comunicação tendem a mudar estímulos de interação social do idoso e de seu interesse com a própria vida.
Por sua vez, se é evidente que não se pode obrigar filhos e pais a se amar, deve-se ao menos permitir ao prejudicado o recebimento de indenização pelo dano causado.
Por todo exposto, clamo meus pares a aprovar o presente projeto de lei.
Sala das Sessões,
Deputado CARLOS BEZERRA
2008_10894_Carlos Bezerra.
Disponível no site:
Acesso em 30 de abril de 2012, às 23h45mim.
Visitantes
59645221
© 2026 Todos os direitos reservados - Certificado e desenvolvido pelo PROMAD - Programa Nacional de Modernização da Advocacia